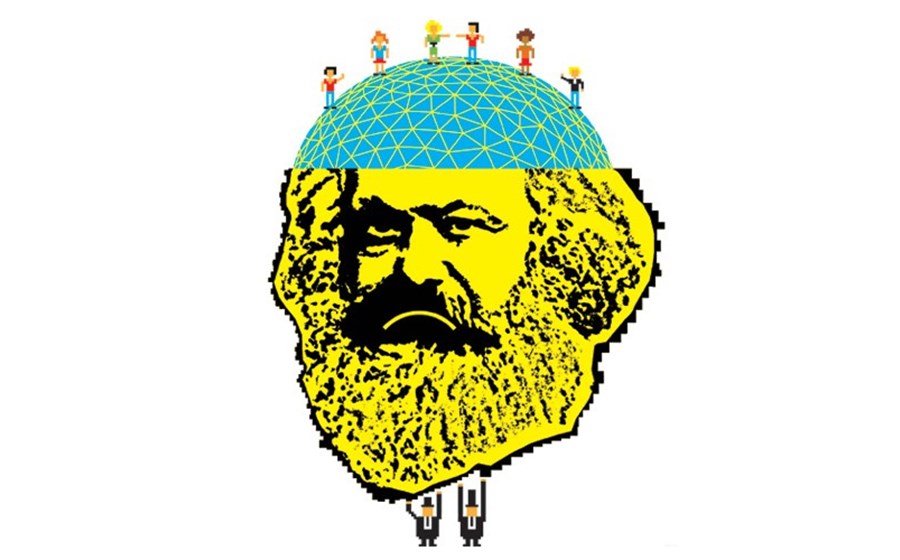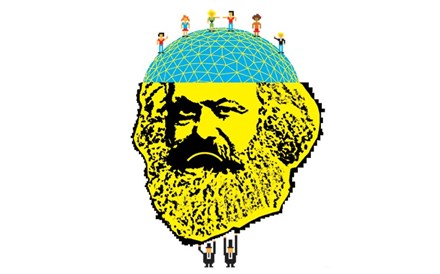Notícia
Será este o fim do capitalismo?
Os rumores sobre a morte de Mark Twain foram exagerados. Mas o escritor morreu 13 anos depois de escrever a famosa frase. A morte do capitalismo foi (erradamente) decretada inúmeras vezes. Mas isso não significa que o sistema resistirá para sempre. Uma nova economia de tecnologia da informação e organização colaborativa e em rede desafia os conceitos de propriedade do capitalismo e os mecanismos de fixação de preços.
Todos os anos, cerca de dois mil "geeks" de todo o mundo encontram-se para uma espécie de celebração da liberdade de informação e dos óculos de massa. A Wikimania junta os mais fervorosos colaboradores da Wikipédia. Cantam, dançam, discursam. Um entusiasmo que, para a esmagadora maioria, não é acompanhado por um salário. A Wikipédia tem quase 40 milhões de páginas, 28 milhões de utilizadores registados e é o sétimo site mais visitado do mundo. No entanto, emprega pouco mais de 250 pessoas. A maior parte do trabalho de edição é feito por 120 mil colaboradores muito activos, que não cobram pelos serviços. Todos os dias, milhões de empresas em todo o mundo realizam transacções com a Wikipédia. O Negócios fê-lo para escrever este artigo. Não pagou um cêntimo. Se fosse uma empresa privada, a Wikipédia facturaria cerca de 2,8 mil milhões de dólares ao ano. Mais do que Portugal arrecada em impostos sobre combustíveis. Além de não ter fins lucrativos, a Wikipédia seca também as possibilidades de venda das enciclopédias.
Numa altura em que o mundo parece não conseguir fugir à estagnação económica e o modelo neoliberal é colocado em causa pelas instituições mais insuspeitas de simpatias revolucionárias, há quem questione se não chegámos à encruzilhada definitiva do capitalismo. Qualquer que seja o modelo económico que venha a seguir, ele pode ser parecido com a descrição do parágrafo em cima. A Wikipédia funciona à margem do mercado. Foge das lógicas de fixação preço e de oferta e procura. É talvez o grande exemplo de uma nova forma de organização económica e empresarial, sustentada na tecnologia de informação, na abundância e na colaboração em rede. Será apenas uma ilha exótica ou todo um mundo novo?
Um mundo que roda mais devagar
Comecemos pela análise com que todos estamos de acordo: o mundo não está a crescer. Ou melhor, está a crescer muito devagar. As últimas previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) apontam para um crescimento de 3,2% da economia global em 2016, apenas ligeiramente acima dos já anémicos 3,1% de 2015. Para um português habituado aos valores raquíticos, podem até parecer variações elevadas, mas não se esqueça que o mundo é constituído por nações ricas e desenvolvidas (pense em EUA, França) e por economias emergentes (China, Índia ou Moçambique) que tendencialmente crescem a ritmos mais velozes. Até há poucos anos, o FMI considerava que um crescimento global abaixo de 3% era equivalente a uma recessão.
Estes valores são não apenas baixos como resultam de um FMI cada vez mais pessimista. Nove meses antes da última previsão, Washington esperava um crescimento de 3,8%. Nada que nos fizesse lançar foguetes, mas bem melhor. Rever de 3,8% para 3,2% equivale a menos 390 mil milhões de euros ou o mesmo que tirar duas economias portuguesas ao mundo. Significa que milhões de pessoas terão mais dificuldades em encontrar trabalho, vão receber menos dinheiro e comprar menos carros e iPhone. Enfim, viver pior.
Estes números sublinham a tese defendida por Larry Summers, que recuperou em 2013 um conceito dos anos 1930: estamos a viver uma "estagnação secular". Isto é, "uma longa e sustentada desaceleração do crescimento económico", explica o secretário do Tesouro de Bill Clinton. Após o pânico inicial provocado pelo desastre financeiro de 2008, a recuperação não está a ser tão forte como se esperaria depois de uma recessão profunda. "Em cerca de metade dos países ricos do mundo, o rendimento per capita está abaixo do nível antes da crise. Na Alemanha, o país com melhor desempenho, está a crescer a um ritmo de 0,8%. Nos EUA, 0,4%", explica ao Negócios Ha-Joon Chang, economista da Universidade de Cambridge. "Até aos últimos anos, o crescimento da China e de outros países em de-senvolvimento - principalmente aqueles que vendiam matérias-primas à China - compensaram a diminuição do crescimento no mundo rico. Mas a China tem desacelerado e isso está a arrastar o resto do mundo em desenvolvimento."
Quais são as pedras na engrenagem económica?
A Comissão Europeia avança com três explicações possíveis para o arrefecimento da economia. A primeira é a tese da procura: poupanças excessivas e investimento baixo empurram as taxas de juro reais para zero, o que provoca menos procura e, consequentemente, menos crescimento. Este aumento da poupança tem origem no envelhecimento da população, aversão ao risco, capital "barato" e maior desigualdade social. A riqueza concentrou-se nos 1% mais ricos e, nos países mais desenvolvidos, a classe média e média baixa viu o seu rendimento estagnar ou mesmo cair.
A segunda tese olha para a oferta. Robert Gordon, que tem desenhado o argumento mais convincente, reconhece a importância dos factores do lado da procura - envelhecimento da população e desigualdade - e acrescenta-lhe o problema de dívida pública, níveis de formação mais baixos e, mais importante, o menor impacto da inovação tecnológica. Tudo junto, Gordon calcula que o crescimento médio do PIB per capita dos EUA deverá cair de uma média de 2% (1891-2007) para somente 0,2%. Tão baixo? Fique a saber que foi esse o ritmo de crescimento do Reino Unido entre 1300 e 1700. Para que o futuro não seja tão negro, a inovação tecnológica das próximas décadas terá de ser tão revolucionária como na primeira e segunda revoluções industriais. Por exemplo, antes do motor de combustão interna, o transporte urbano dependia totalmente do cavalo. Além da óbvia diferença de velocidade, cada cavalo deixava todos os dias 11 a 22 quilos de estrume e quatro litros de urina nas ruas das cidades. Isso significa cinco a dez toneladas por cada milha quadrada (2,5 km). O carro também libertou um quarto do terreno agrícola, usado para alimentar os cavalos. Outras inovações tiveram um impacto igualmente radical. No final do século XIX, as mulheres gastavam dois dias por semana a lavar roupa em tanques. A máquina de lavar libertou-as dessa tarefa. Ainda tinham de ir às compras todos os dias, mas o frigorífico também mudou isso.
Há, claro, quem tenha uma visão mais optimista do futuro. Erik Brynjolfsson recorda que há 120 anos, quando as fábricas começaram a ser electrificadas, a produtividade demorou 30 anos a aumentar. Como um adolescente que começa a mudar de voz, a transformação da economia leva tempo, é irritante e, por vezes, fecha-se no quarto. Para Brynjolfsson, estamos a assistir às "dores de crescimento" da "nova era da máquina".
Paul Krugman também joga na equipa dos optimistas. Numa entrevista que o Negócios e a Renascença lhe fizeram no início deste ano, o prémio Nobel acha difícil que os problemas actuais se estendam no longo prazo. "Quem sabe o que seremos daqui a 50 anos? Os problemas que temos hoje não vão existir para sempre. Preocupo-me que tenhamos um enfraquecimento da procura por 10 anos, mas a tecnologia continua a mudar", afirmou. "Se calhar, há futuros 'booms' de novas tecnologias ou os robôs tiram-nos todos os trabalhos e depois decidem matar-nos. Não sei…"
Afastámo-nos um pouco do caminho principal, mas regressemos às três hipóteses da Comissão Europeia. A terceira coloca o endividamento no centro dos problemas. Tem como principal embaixador Kenneth Rogoff, que defende que o mundo atravessa um superciclo de endividamento, o que incentiva os credores a arriscar menos e a guardar mais activos seguros. Isto gera enormes pressões de diminuição do endividamento, que estão a travar o crescimento.
O Papa diz que Deus não existe
Com o crescimento económico encostado às cordas, os economistas têm tentado ir mais longe na investigação do problema. Recentemente, isso levou o FMI a levantar dúvidas sobre o modelo económico existente em grande parte do mundo. Num artigo publicado na edição do mês passado da revista do Fundo, Jonathan Ostry, Prakash Loungani e Davide Furceri fizeram virar cabeças: lançaram uma crítica às políticas neoliberais das últimas décadas. "Em vez de gerar crescimento, algumas políticas neoliberais aumentaram a desigualdade e colocaram em perigo uma expansão duradoura." São estas as palavras que abrem o artigo.
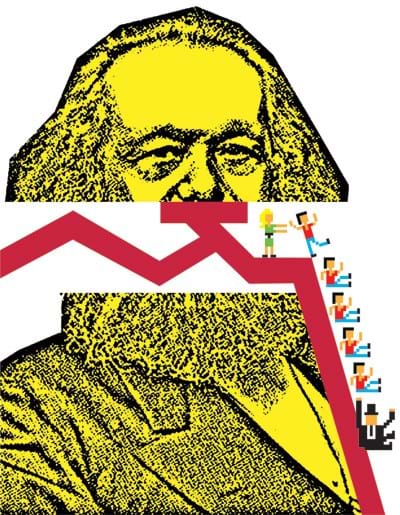 Se calhar, é útil começar por definir o que é o neoliberalismo. Diferentes pessoas usam a expressão para se referirem a diferentes coisas, mas podemos tentar resumi-lo a duas grandes intenções: aumentar a competição, através de desregulação e abertura do mercado interna ao exterior; e diminuir a dimensão do Estado, com ondas de privatizações e um controlo mais apertado sobre o défice e a dívida pública.
Se calhar, é útil começar por definir o que é o neoliberalismo. Diferentes pessoas usam a expressão para se referirem a diferentes coisas, mas podemos tentar resumi-lo a duas grandes intenções: aumentar a competição, através de desregulação e abertura do mercado interna ao exterior; e diminuir a dimensão do Estado, com ondas de privatizações e um controlo mais apertado sobre o défice e a dívida pública.
O artigo do FMI avalia duas políticas - remover as restrições aos movimentos de capital entre fronteiras; e consolidação orçamental, aquilo a que chamamos austeridade - e chega a três conclusões "inquietantes": "Os benefícios de maior crescimento são difíceis de identificar quando se olha para um grande grupo de países; os custos em termos de desigualdade são significativos [...]; e, por sua vez, o aumento da desigualdade prejudica o nível e a sustentabilidade do crescimento." Depois de uma entrada substancial de capital estrangeiro num país, a probabilidade de uma crise financeira aumenta de menos de 8% para 20% e a desigualdade cresce a um ritmo duas vezes maior. A tese prevalecente tende também a desvalorizar os custos da austeridade, bem como os benefícios de um ajustamento mais lento, defendem os autores.
Neoliberalismo é uma expressão essencialmente usada pelos seus críticos. Muitos economistas "neoliberais" nem sequer reconhecem que ele existe enquanto modelo económico, quanto mais que ele foi aplicado de forma quase homogénea por todo o globo nas últimas décadas, como refere aqui o FMI. Criticá-lo? Parece heresia. "É mais ou menos o mesmo que o Papa dizer que Deus não existe", escreveu o jornalista Ben Norton. O artigo foi visto por alguns como um sinal de inversão da orientação política da instituição, mas o economista-chefe Maury Obstfeld apressou-se a vir a público explicar que "não significa uma grande mudança na abordagem do Fundo".
A verdade é que, apesar das conclusões do seu departamento de investigação, o FMI não mudou a sua abordagem. No terreno, as medidas recomendadas aos governos continuam a ser as mesmas - privatizações, flexibilização do mercado de trabalho, menos despesa pública… - como se vê no caso português. Ao Negócios, o economista James Galbraith refere que "isso mostra o vazio de conhecimento do FMI sobre as economias". "Eles repetem sempre as mesmas fórmulas que aprenderam como alunos ou que são pagos para repetir", explica o professor da Universidade do Texas e antigo conselheiro de Varoufakis, quando este era o ministro grego das Finanças. Não poderão estar a mudar de opinião? "O FMI nunca vai reconhecer nada. Os indivíduos envolvidos estão tão aconchegados na sua guilda de jaulas isoladas que não reconheceriam [que é preciso mudar] nem que isso lhes acertasse na cabeça."
A chegada do pós-capitalismo?
As notícias sobre a morte de Mark Twain foram exageradas. Mas o escritor acabou mesmo por morrer treze anos depois de ter escrito essa frase. Não temos maneira de saber, mas provavelmente muitos desconfiaram que poderíamos estar novamente a "exagerar". Será que estamos a fazer o mesmo em relação ao capitalismo? É difícil manter a contabilidade em dia sobre o número de vezes que a sua morte já foi decretada. São tantas quanto o número de vezes que sobreviveu. Até hoje, sempre que o capitalismo parece ter batido na parede, ele adapta-se e a parede move-se quilómetros para trás. Mas será que isso significa que todas as previsões de colapso estarão sempre erradas?
Há quem argumente que a parede com que o sistema agora se depara é a mais alta e espessa de sempre. Uma dessas pessoas é Paul Mason. O leitor ficará a conhecê-lo melhor na entrevista das páginas seguintes. É jornalista e autor de "Pós-Capitalismo", publicado este ano em Portugal pela Objectiva. Um livro em que defende que as novas empresas e novos modelo económicos que estão a nascer não são compatíveis com a lógica de mercado. O capitalismo não cairá prostrado pelo peso das suas contradições - como previa Karl Marx -, mas porque deixou de se conseguir adaptar.
"Mais um a dizer que o capitalismo está acabado?", estará a perguntar o leitor com enfado. Sim, eu sei que parece mais do mesmo. E há uma elevada probabilidade de que ele esteja errado. Mas o argumento tem recebido alguma atenção e Mason é provavelmente quem melhor o articulou até agora. É também original, ao afastar-se da crítica típica da esquerda. A tese central do livro é que a nova economia de tecnologia da informação nascida nos anos 1990 criou os pilares de uma organização em rede que desafia os conceitos de propriedade do capitalismo, bem como os mecanismos de fixação de preços para os cada vez mais disseminados bens digitais, empurrando-os para zero. Ao mesmo tempo, está a erodir a velha (e antiquada?) relação entre trabalho e salário.
"A tecnologia de informação é um tipo diferente de revolução tecnológica, que limita a capacidade do capitalismo se adaptar. Temos de imaginar a possibilidade de abundância. Se não houver escassez, não há mercado. Se estivermos numa situação de abundância tecnológica, não haverá mais capitalismo", explica Paul Mason, em entrevista ao Negócios. Tudo começa no facto de um produto de informação ser diferente de uma mercadoria física. Permite fazer algo que muitos de nós repetimos dezenas de vezes ao dia: "copy-paste". Isso significa reproduzir algo gratuitamente ou com um "custo marginal zero". Podemos fazê-lo com uma simples frase de um livro, um CD, um filme ou um software que vale milhões de euros. A informação não se degrada com a utilização e pode ser usada por outra pessoa ao mesmo tempo que nós. Numa palavra, ela é altamente "partilhável".
Claro que podemos dificultar as coisas: colocar uma protecção num ficheiro que impeça a cópia ou criar penas pesadas para quem venda DVD falsos numa feira em Massamá. Mas isso não muda o princípio e a natureza da informação: ela é copiável e partilhável por um custo insignificante. Também não altera a nossa propensão para a distribuir, como atestam as sucessivas guerras perdidas contra a pirataria. Qual é o impacto disto no mercado? Bom, se podemos replicar algo quase sem gastar energia, sem usar mais materiais e sem mais capital, o preço desse bem deve tender para zero, o que obviamente corrói os lucros e faz implodir os salários. Veja-se como, para escapar à pirataria, os artistas correm para o Spotify, onde recebem pouco mais de 0,001 dólares por "stream". No YouTube? Ainda menos: 0,0003 dólares.
A lógica de Mason não é exótica. Em 2001, Larry Summers e J. Bradford DeLong já escreviam: "Se os bens de informação forem distribuídos ao seu custo marginal de produção - zero - não podem ser criados e produzidos por empresas que recorrem às receitas da venda aos consumidores para cobrirem os seus custos."
Ladrões de software
O computador Altair 8800 começou a ser vendido nos anos 1970. As pessoas compravam a máquina, mas decidiam partilhar entre si o software, que vinha num rolo de papel perfurado. Perante esta diferença de tratamento, o autor do software escreveu uma carta indignada aos utilizadores: "A maior parte de vocês rouba o software. [Acham] que o hardware tem de ser pago, mas que o software é uma coisa para ser partilhada. Nem querem saber se as pessoas que o desenvolveram têm de ser pagas." A carta era assinada por ainda um jovem, mas já muito zangado Bill Gates. Não demorou muito até o futuro líder da Microsoft encontrar uma solução: desenvolveu uma espécie de monopólio em torno do Windows, que passou a ser o sistema operativo de praticamente todos os PC.
A criação de monopólios e sistemas fechados tem sido a estratégia de muitas empresas para resistirem à pressão sobre os preços. Veja-se o jardim murado que a Apple construiu em torno dos seus produtos. O iTunes funciona com o Mac, que funciona com o iPhone, que funciona com o iPad… "O mundo só não está encharcado de coisas grátis, porque está cheio de monopólios e mecanismos de supressão de mercado. Se o mercado estivesse a funcionar livremente, reduziria o preço da informação para perto de zero e não haveria modelo de negócio", escreve Mason.
Na realidade, não estamos a assistir a nada muito recente, mas sim a uma espécie de consagração do Movimento Software Livre, nascido na década de 1980, do qual haveria de brotar o Linux, um sistema operativo criado gratuitamente e em colaboração por centenas de programadores. Em 2014, estava instalado em 10% dos computadores empresariais de todo o mundo. Se estiver a ler este texto na web, é provável que esteja a usar outro mecanismo em código aberto: o Firefox tem cerca de 15% do mercado global de browsers; e mais de 80% dos smartphones correm o Android. São ambos "open source".
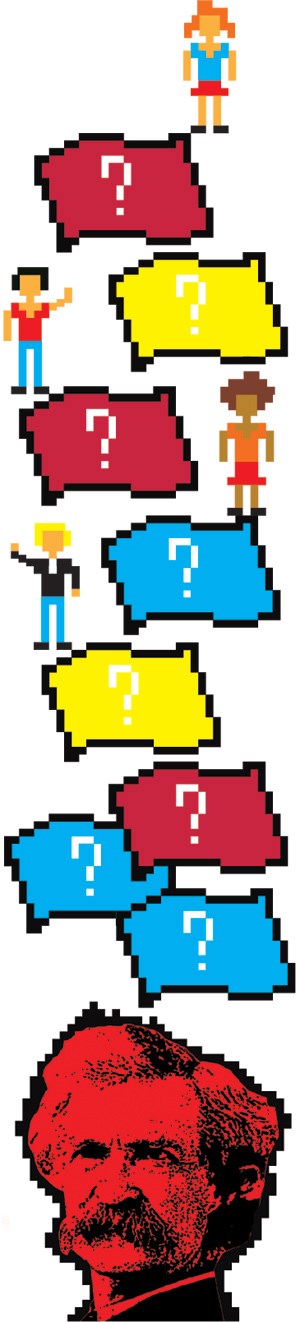 Ao mesmo tempo, a emergência das impressoras 3D permite que cada um de nós tenha uma minifábrica em casa e a Internet das Coisas liga tudo e todos em rede (pessoas, máquinas, recursos naturais, linhas de produção…). Em "A Sociedade do Custo Marginal Zero" (2014), Jeremy Rifkin defendeu uma tese semelhante à de Mason: o capitalismo está a ser eclipsado por uma nova economia colaborativa. "Mais de um terço da espécie humana produz a sua própria informação com recurso a telemóveis relativamente baratos e computadores, partilhando-a através de vídeo, áudio e texto a um custo marginal próximo de zero, num mundo interligado de bens comuns colaborativos", escreveu.
Ao mesmo tempo, a emergência das impressoras 3D permite que cada um de nós tenha uma minifábrica em casa e a Internet das Coisas liga tudo e todos em rede (pessoas, máquinas, recursos naturais, linhas de produção…). Em "A Sociedade do Custo Marginal Zero" (2014), Jeremy Rifkin defendeu uma tese semelhante à de Mason: o capitalismo está a ser eclipsado por uma nova economia colaborativa. "Mais de um terço da espécie humana produz a sua própria informação com recurso a telemóveis relativamente baratos e computadores, partilhando-a através de vídeo, áudio e texto a um custo marginal próximo de zero, num mundo interligado de bens comuns colaborativos", escreveu.
Deixe o robô roubar-lhe o emprego
Outro motivo para a actual transformação ser diferente de avanços anteriores é o emprego. Até hoje, a inovação automatizou (ou, se quisermos, destruiu) postos de trabalho, mas criou outros novos e mais qualificados, com capacidade para gerar mais valor e receber salários mais elevados. Não é a isso que estamos a assistir agora. "A tecnologia de informação destrói mais empregos", diz Mason.
Se olharmos com atenção, já estamos a observar uma transformação do mercado laboral. Que novos empregos estão a ser criados à sua volta por indústrias vibrantes? Nos sectores tradicionais assiste-se a uma precarização das relações laborais, enquanto as empresas inovadoras não oferecem esperanças de emprego estável ou bem pago. Quase só nascem "empregos da treta". Veja-se o caso da Uber, que nem sequer classifica os seus trabalhadores como tal e que, nos EUA, lhes paga mais ou menos o mesmo que o salário mínimo (depois de descontadas as despesas). "Não é surpreendente que alguns [empresários] em Silicon Valley estejam a defender um rendimento mínimo incondicional providenciado pelo Estado. Percebem que o efeito de modelos como o da Uber é baixar tanto o rendimento [dos trabalhadores] que as pessoas não conseguem sobreviver e, portanto, não conseguem conduzir ubers", diz Mason, que vê no rendimento incondicional uma medida essencial para a transição.
E ainda nem falámos da possibilidade de o seu trabalho estar a ser feito por um robô dentro de poucos anos. Um estudo de 2013 da Universidade de Oxford deixou muitos arrepiados: até à década de 2030, 47% dos postos de trabalho dos EUA poderão estar automatizados. Metade dos empregos. Dificilmente escaparemos a esta vaga de automatização e, segundo o plano de Mason, não devemos fugir dela, mas sim abraçá-la.
Num mundo recheado de contradições, Mason propõe-nos que nos deixemos levar pelo nosso instinto e - sim, é verdade - pelo que nos diz o mercado. Tecnologicamente, estamos a avançar para preços zero, logo, trabalho que não pode ser pago. Devemos aproveitar a robotização e a pressão sobre os preços para nos libertarmos dos grilhões da ligação trabalho-salário. Quem escreve a Wikipédia não recebe dinheiro. Trocam "presentes" ou, se quiser, "boa vontade" e "felicidade". Mason imagina este modelo aplicado a uma grande fatia da economia.
Uma realidade que outros anteciparam há mais de 150 anos. Numa altura em que ainda não havia internet, processadores ou bases de dados. Numa economia em que as máquinas realizam a maior parte do trabalho e a função do homem é supervisionar, manter e concebê-las, a natureza do conhecimento encerrado no interior das máquinas deve ser "social". A principal força produtiva é a informação. O trabalhador "passa para o lado do processo de produção em vez de ser o seu principal actor". A tese é defendida em "Fragment on Machines", um texto de Karl Marx, que só foi traduzido para inglês há menos de 50 anos.
Liberdade vs. propriedade
Paul Mason conta que um dia perguntou a Larry Page o que mais desejava fazer na vida. O CEO da Google respondeu que gostaria de construir uma máquina que soubesse tudo. "Se fosse hoje, eu dir-lhe-ia que, enquanto todos nós, utilizadores do Google, não conseguirmos ver tudo o que tu, Larry Page, vês, a máquina não conseguirá saber tudo", sublinha. Por melhores que sejam os programadores da Google, a máquina seria sempre melhor se todos pudéssemos contribuir. "O mercado está a levar a uma subutilização da informação. Se o número de inputs e outputs é limitado pela propriedade, a informação nunca será tão boa como pode ser."
Isto significa que a informação nunca será totalmente livre enquanto houver um respeito pela propriedade tal qual a conhecemos. Ou respeitamos totalmente uma ou a outra. Conceder acesso universal à filmografia do Tarantino ou apenas a quem pode pagar para ir ao cinema? Há obviamente bons argumentos para defender que faz sentido manter a integridade da propriedade acima de tudo. Mas o debate vai mais longe do que a discussão moral e "o que deve ou não acontecer". A onda pode ser demasiado forte. A partilha é-nos instintiva. A lei diferencia uma "mixtape" para a nossa namorada de um "torrent" com o último álbum de Kanye West. Mas o impulso não é assim tão diferente. Apenas a escala.
"Hoje em dia, a principal contradição do capitalismo moderno é entre a possibilidade da existência de bens gratuitos e produzidos socialmente em abundância, e um sistema de monopólios, bancos e governos que lutam por manter o controlo do poder e da informação. Ou seja, está tudo impregnado por uma luta entre a rede e a hierarquia", critica Mason. Claro que isto levanta muitos problemas. Se os direitos de propriedade intelectual forem abolidos, como motivar alguém para gastar milhares de milhões em investigação? (Mason acha que eles devem continuar a existir, mas serem muito mais curtos); e como é que se paga a trabalhadores se o produto da empresa tiver um custo zero? Recuando até ao exemplo da Wikipédia, aqueles 120 mil colaboradores muito activos têm provavelmente empregos que lhes pagam um salário, que lhes permite comprar pão, ir ao cinema e, em última análise, sobreviver para editar a Wikipédia.
Mason reconhece que assim é, mas nota que se trata de uma fase de transição. À medida que uma fatia cada vez maior da economia passar a ser gerida numa lógica fora do mercado - e com a ajuda de mecanismos como o rendimento incondicional -, as coisas mudarão lentamente.
Marx dá voltas no túmulo
À primeira vista, poderia pensar que a tese de Mason seria bem recebida pela esquerda. Mas não é bem assim. Ele também parte de uma crítica feroz ao neoliberalismo, mas argumenta que as últimas décadas interromperam o ciclo de mais de duzentos anos: perante uma pressão dos patrões, os trabalhadores batiam o pé e, depois de um período de luta, chegava-se a um novo equilíbrio. Não foi isso que aconteceu desta vez. Devido à globalização (e muitos outros factores que não temos aqui espaço para enumerar), os trabalhadores capitularam perante as empresas, argumenta Mason. Há menos trabalhadores sindicalizados, um enorme declínio do seu poder negocial e uma queda dos salários em percentagem do PIB.
"Tornou-se impossível imaginar esta classe trabalhadora - desorganizada, subjugada pelo consumismo e pelo individualismo - derrubar o capitalismo", escreve Mason. "A velha sequência - greves gerais, barricadas, sovietes e um governo da classe trabalhadora - parece uma utopia num mundo cujo ingrediente-chave, a solidariedade no local de trabalho, prima pela ausência."
Paul Mason diz que Karl Marx estava errado. Sublinha que o marxismo é um magnífica teoria da História, capaz de compreender a relação entre classes, o poder, a tecnologia e, a partir daí, prever a actuação dos homens mais poderosos do mundo. Como teoria das crises? É muito mais limitado. Marx percebeu que o capitalismo é instável e frágil, mas subestimou a sua capacidade de adaptação. "Quanto mais o rosto de Marx encher as páginas dos principais jornais com notícias de pânico [...], maiores serão as hipóteses de eles tentarem repetir as experiências fracassadas dos discípulos de Marx: o bolchevismo e a abolição forçada do mercado."
Embora as perigosas fábricas do Bangladesh possam lembrar o primeiro contacto dos trabalhadores ingleses com a violência da revolução industrial, tem sido impossível criar algo que se assemelhe aos grandes movimentos sindicais que emergiram no mundo ocidental. Não será por isso o proletariado a levar esta agenda para a frente, mas sim um movimento mais fragmentado: empreendedores focados em "open source", activistas anticapitalistas e defensores de energias verdes. Mason argumenta que o protesto actual - nas ruas de Atenas, num acampamento em Madrid, no "Occupy" de Nova Iorque ou no Parque Gezi em Istambul - representa uma nova força social: os indivíduos ligados em rede. "Podem estar tão desorganizados estrategicamente como os trabalhadores do século XIX, mas já não são escravos do sistema, e estão extremamente insatisfeitos com o mesmo […] O neoliberalismo só lhes pode oferecer um mundo de crescimento estagnado e um Estado num nível de bancarrota: austeridade até à morte, mas com uma versão actualizada do iPhone lançada quase todos os anos."
Uma estrada com nevoeiro
Como seria de esperar num livro tão ambicioso - explicar a transição para todo um novo sistema económico -, Mason é muito mais claro na análise e crítica à situação actual do que na sugestão de soluções futuras. Fala em reduzir as emissões de CO2, "socializar a banca", reduzir a necessidade de trabalho e garantir o bem-estar da população. Pelo caminho sugere algumas medidas, como travar as privatizações, desmantelar monopólios como a Apple ou a Google, controlar politicamente os bancos centrais e o já referido rendimento incondicional. Mas ele próprio assume que seria transitório, porque o Estado é para desaparecer. Mas antes de ele se evaporar devíamos aproveitar para anular as dívidas e planear infra-estruturas… É fácil deixarmo-nos perder.
Mason faz uma crítica feroz (e sustentada) ao actual regime e propõe um novo modelo muito ambicioso. O problema é que tudo o que medeia esses dois momentos parece frágil. Sabe a pouco para uma transformação tão abrangente e estrutural. O final do livro é como conduzir por uma estrada com nevoeiro cerrado. Sabemos que não pretendemos ficar de onde viemos e queremos chegar ao novo destino, mas não é nada claro como o iremos fazer.
Tal como Karl Marx, talvez o papel de Paul Mason não seja tanto mostrar-nos o futuro numa bandeja, mas sim provocar-nos o suficiente para estimular a nossa crítica ao sistema que nos rodeia e procurar alternativas.
Numa altura em que o mundo parece não conseguir fugir à estagnação económica e o modelo neoliberal é colocado em causa pelas instituições mais insuspeitas de simpatias revolucionárias, há quem questione se não chegámos à encruzilhada definitiva do capitalismo. Qualquer que seja o modelo económico que venha a seguir, ele pode ser parecido com a descrição do parágrafo em cima. A Wikipédia funciona à margem do mercado. Foge das lógicas de fixação preço e de oferta e procura. É talvez o grande exemplo de uma nova forma de organização económica e empresarial, sustentada na tecnologia de informação, na abundância e na colaboração em rede. Será apenas uma ilha exótica ou todo um mundo novo?
Um mundo que roda mais devagar
Estes valores são não apenas baixos como resultam de um FMI cada vez mais pessimista. Nove meses antes da última previsão, Washington esperava um crescimento de 3,8%. Nada que nos fizesse lançar foguetes, mas bem melhor. Rever de 3,8% para 3,2% equivale a menos 390 mil milhões de euros ou o mesmo que tirar duas economias portuguesas ao mundo. Significa que milhões de pessoas terão mais dificuldades em encontrar trabalho, vão receber menos dinheiro e comprar menos carros e iPhone. Enfim, viver pior.
Estes números sublinham a tese defendida por Larry Summers, que recuperou em 2013 um conceito dos anos 1930: estamos a viver uma "estagnação secular". Isto é, "uma longa e sustentada desaceleração do crescimento económico", explica o secretário do Tesouro de Bill Clinton. Após o pânico inicial provocado pelo desastre financeiro de 2008, a recuperação não está a ser tão forte como se esperaria depois de uma recessão profunda. "Em cerca de metade dos países ricos do mundo, o rendimento per capita está abaixo do nível antes da crise. Na Alemanha, o país com melhor desempenho, está a crescer a um ritmo de 0,8%. Nos EUA, 0,4%", explica ao Negócios Ha-Joon Chang, economista da Universidade de Cambridge. "Até aos últimos anos, o crescimento da China e de outros países em de-senvolvimento - principalmente aqueles que vendiam matérias-primas à China - compensaram a diminuição do crescimento no mundo rico. Mas a China tem desacelerado e isso está a arrastar o resto do mundo em desenvolvimento."
Quais são as pedras na engrenagem económica?
A Comissão Europeia avança com três explicações possíveis para o arrefecimento da economia. A primeira é a tese da procura: poupanças excessivas e investimento baixo empurram as taxas de juro reais para zero, o que provoca menos procura e, consequentemente, menos crescimento. Este aumento da poupança tem origem no envelhecimento da população, aversão ao risco, capital "barato" e maior desigualdade social. A riqueza concentrou-se nos 1% mais ricos e, nos países mais desenvolvidos, a classe média e média baixa viu o seu rendimento estagnar ou mesmo cair.
A segunda tese olha para a oferta. Robert Gordon, que tem desenhado o argumento mais convincente, reconhece a importância dos factores do lado da procura - envelhecimento da população e desigualdade - e acrescenta-lhe o problema de dívida pública, níveis de formação mais baixos e, mais importante, o menor impacto da inovação tecnológica. Tudo junto, Gordon calcula que o crescimento médio do PIB per capita dos EUA deverá cair de uma média de 2% (1891-2007) para somente 0,2%. Tão baixo? Fique a saber que foi esse o ritmo de crescimento do Reino Unido entre 1300 e 1700. Para que o futuro não seja tão negro, a inovação tecnológica das próximas décadas terá de ser tão revolucionária como na primeira e segunda revoluções industriais. Por exemplo, antes do motor de combustão interna, o transporte urbano dependia totalmente do cavalo. Além da óbvia diferença de velocidade, cada cavalo deixava todos os dias 11 a 22 quilos de estrume e quatro litros de urina nas ruas das cidades. Isso significa cinco a dez toneladas por cada milha quadrada (2,5 km). O carro também libertou um quarto do terreno agrícola, usado para alimentar os cavalos. Outras inovações tiveram um impacto igualmente radical. No final do século XIX, as mulheres gastavam dois dias por semana a lavar roupa em tanques. A máquina de lavar libertou-as dessa tarefa. Ainda tinham de ir às compras todos os dias, mas o frigorífico também mudou isso.
Há, claro, quem tenha uma visão mais optimista do futuro. Erik Brynjolfsson recorda que há 120 anos, quando as fábricas começaram a ser electrificadas, a produtividade demorou 30 anos a aumentar. Como um adolescente que começa a mudar de voz, a transformação da economia leva tempo, é irritante e, por vezes, fecha-se no quarto. Para Brynjolfsson, estamos a assistir às "dores de crescimento" da "nova era da máquina".
Paul Krugman também joga na equipa dos optimistas. Numa entrevista que o Negócios e a Renascença lhe fizeram no início deste ano, o prémio Nobel acha difícil que os problemas actuais se estendam no longo prazo. "Quem sabe o que seremos daqui a 50 anos? Os problemas que temos hoje não vão existir para sempre. Preocupo-me que tenhamos um enfraquecimento da procura por 10 anos, mas a tecnologia continua a mudar", afirmou. "Se calhar, há futuros 'booms' de novas tecnologias ou os robôs tiram-nos todos os trabalhos e depois decidem matar-nos. Não sei…"
Afastámo-nos um pouco do caminho principal, mas regressemos às três hipóteses da Comissão Europeia. A terceira coloca o endividamento no centro dos problemas. Tem como principal embaixador Kenneth Rogoff, que defende que o mundo atravessa um superciclo de endividamento, o que incentiva os credores a arriscar menos e a guardar mais activos seguros. Isto gera enormes pressões de diminuição do endividamento, que estão a travar o crescimento.
O Papa diz que Deus não existe
Com o crescimento económico encostado às cordas, os economistas têm tentado ir mais longe na investigação do problema. Recentemente, isso levou o FMI a levantar dúvidas sobre o modelo económico existente em grande parte do mundo. Num artigo publicado na edição do mês passado da revista do Fundo, Jonathan Ostry, Prakash Loungani e Davide Furceri fizeram virar cabeças: lançaram uma crítica às políticas neoliberais das últimas décadas. "Em vez de gerar crescimento, algumas políticas neoliberais aumentaram a desigualdade e colocaram em perigo uma expansão duradoura." São estas as palavras que abrem o artigo.
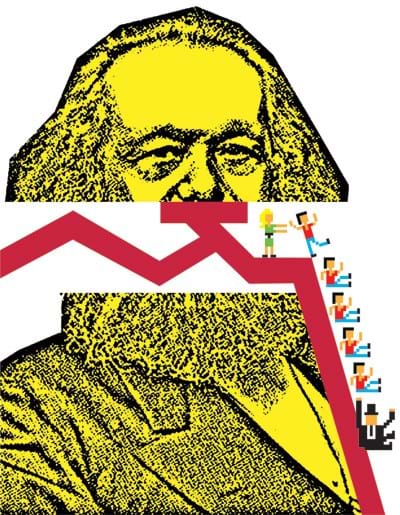 Se calhar, é útil começar por definir o que é o neoliberalismo. Diferentes pessoas usam a expressão para se referirem a diferentes coisas, mas podemos tentar resumi-lo a duas grandes intenções: aumentar a competição, através de desregulação e abertura do mercado interna ao exterior; e diminuir a dimensão do Estado, com ondas de privatizações e um controlo mais apertado sobre o défice e a dívida pública.
Se calhar, é útil começar por definir o que é o neoliberalismo. Diferentes pessoas usam a expressão para se referirem a diferentes coisas, mas podemos tentar resumi-lo a duas grandes intenções: aumentar a competição, através de desregulação e abertura do mercado interna ao exterior; e diminuir a dimensão do Estado, com ondas de privatizações e um controlo mais apertado sobre o défice e a dívida pública.O artigo do FMI avalia duas políticas - remover as restrições aos movimentos de capital entre fronteiras; e consolidação orçamental, aquilo a que chamamos austeridade - e chega a três conclusões "inquietantes": "Os benefícios de maior crescimento são difíceis de identificar quando se olha para um grande grupo de países; os custos em termos de desigualdade são significativos [...]; e, por sua vez, o aumento da desigualdade prejudica o nível e a sustentabilidade do crescimento." Depois de uma entrada substancial de capital estrangeiro num país, a probabilidade de uma crise financeira aumenta de menos de 8% para 20% e a desigualdade cresce a um ritmo duas vezes maior. A tese prevalecente tende também a desvalorizar os custos da austeridade, bem como os benefícios de um ajustamento mais lento, defendem os autores.
Neoliberalismo é uma expressão essencialmente usada pelos seus críticos. Muitos economistas "neoliberais" nem sequer reconhecem que ele existe enquanto modelo económico, quanto mais que ele foi aplicado de forma quase homogénea por todo o globo nas últimas décadas, como refere aqui o FMI. Criticá-lo? Parece heresia. "É mais ou menos o mesmo que o Papa dizer que Deus não existe", escreveu o jornalista Ben Norton. O artigo foi visto por alguns como um sinal de inversão da orientação política da instituição, mas o economista-chefe Maury Obstfeld apressou-se a vir a público explicar que "não significa uma grande mudança na abordagem do Fundo".
A verdade é que, apesar das conclusões do seu departamento de investigação, o FMI não mudou a sua abordagem. No terreno, as medidas recomendadas aos governos continuam a ser as mesmas - privatizações, flexibilização do mercado de trabalho, menos despesa pública… - como se vê no caso português. Ao Negócios, o economista James Galbraith refere que "isso mostra o vazio de conhecimento do FMI sobre as economias". "Eles repetem sempre as mesmas fórmulas que aprenderam como alunos ou que são pagos para repetir", explica o professor da Universidade do Texas e antigo conselheiro de Varoufakis, quando este era o ministro grego das Finanças. Não poderão estar a mudar de opinião? "O FMI nunca vai reconhecer nada. Os indivíduos envolvidos estão tão aconchegados na sua guilda de jaulas isoladas que não reconheceriam [que é preciso mudar] nem que isso lhes acertasse na cabeça."
A chegada do pós-capitalismo?
As notícias sobre a morte de Mark Twain foram exageradas. Mas o escritor acabou mesmo por morrer treze anos depois de ter escrito essa frase. Não temos maneira de saber, mas provavelmente muitos desconfiaram que poderíamos estar novamente a "exagerar". Será que estamos a fazer o mesmo em relação ao capitalismo? É difícil manter a contabilidade em dia sobre o número de vezes que a sua morte já foi decretada. São tantas quanto o número de vezes que sobreviveu. Até hoje, sempre que o capitalismo parece ter batido na parede, ele adapta-se e a parede move-se quilómetros para trás. Mas será que isso significa que todas as previsões de colapso estarão sempre erradas?
Há quem argumente que a parede com que o sistema agora se depara é a mais alta e espessa de sempre. Uma dessas pessoas é Paul Mason. O leitor ficará a conhecê-lo melhor na entrevista das páginas seguintes. É jornalista e autor de "Pós-Capitalismo", publicado este ano em Portugal pela Objectiva. Um livro em que defende que as novas empresas e novos modelo económicos que estão a nascer não são compatíveis com a lógica de mercado. O capitalismo não cairá prostrado pelo peso das suas contradições - como previa Karl Marx -, mas porque deixou de se conseguir adaptar.
"Mais um a dizer que o capitalismo está acabado?", estará a perguntar o leitor com enfado. Sim, eu sei que parece mais do mesmo. E há uma elevada probabilidade de que ele esteja errado. Mas o argumento tem recebido alguma atenção e Mason é provavelmente quem melhor o articulou até agora. É também original, ao afastar-se da crítica típica da esquerda. A tese central do livro é que a nova economia de tecnologia da informação nascida nos anos 1990 criou os pilares de uma organização em rede que desafia os conceitos de propriedade do capitalismo, bem como os mecanismos de fixação de preços para os cada vez mais disseminados bens digitais, empurrando-os para zero. Ao mesmo tempo, está a erodir a velha (e antiquada?) relação entre trabalho e salário.
"A tecnologia de informação é um tipo diferente de revolução tecnológica, que limita a capacidade do capitalismo se adaptar. Temos de imaginar a possibilidade de abundância. Se não houver escassez, não há mercado. Se estivermos numa situação de abundância tecnológica, não haverá mais capitalismo", explica Paul Mason, em entrevista ao Negócios. Tudo começa no facto de um produto de informação ser diferente de uma mercadoria física. Permite fazer algo que muitos de nós repetimos dezenas de vezes ao dia: "copy-paste". Isso significa reproduzir algo gratuitamente ou com um "custo marginal zero". Podemos fazê-lo com uma simples frase de um livro, um CD, um filme ou um software que vale milhões de euros. A informação não se degrada com a utilização e pode ser usada por outra pessoa ao mesmo tempo que nós. Numa palavra, ela é altamente "partilhável".
Claro que podemos dificultar as coisas: colocar uma protecção num ficheiro que impeça a cópia ou criar penas pesadas para quem venda DVD falsos numa feira em Massamá. Mas isso não muda o princípio e a natureza da informação: ela é copiável e partilhável por um custo insignificante. Também não altera a nossa propensão para a distribuir, como atestam as sucessivas guerras perdidas contra a pirataria. Qual é o impacto disto no mercado? Bom, se podemos replicar algo quase sem gastar energia, sem usar mais materiais e sem mais capital, o preço desse bem deve tender para zero, o que obviamente corrói os lucros e faz implodir os salários. Veja-se como, para escapar à pirataria, os artistas correm para o Spotify, onde recebem pouco mais de 0,001 dólares por "stream". No YouTube? Ainda menos: 0,0003 dólares.
A lógica de Mason não é exótica. Em 2001, Larry Summers e J. Bradford DeLong já escreviam: "Se os bens de informação forem distribuídos ao seu custo marginal de produção - zero - não podem ser criados e produzidos por empresas que recorrem às receitas da venda aos consumidores para cobrirem os seus custos."
Ladrões de software
O computador Altair 8800 começou a ser vendido nos anos 1970. As pessoas compravam a máquina, mas decidiam partilhar entre si o software, que vinha num rolo de papel perfurado. Perante esta diferença de tratamento, o autor do software escreveu uma carta indignada aos utilizadores: "A maior parte de vocês rouba o software. [Acham] que o hardware tem de ser pago, mas que o software é uma coisa para ser partilhada. Nem querem saber se as pessoas que o desenvolveram têm de ser pagas." A carta era assinada por ainda um jovem, mas já muito zangado Bill Gates. Não demorou muito até o futuro líder da Microsoft encontrar uma solução: desenvolveu uma espécie de monopólio em torno do Windows, que passou a ser o sistema operativo de praticamente todos os PC.
A criação de monopólios e sistemas fechados tem sido a estratégia de muitas empresas para resistirem à pressão sobre os preços. Veja-se o jardim murado que a Apple construiu em torno dos seus produtos. O iTunes funciona com o Mac, que funciona com o iPhone, que funciona com o iPad… "O mundo só não está encharcado de coisas grátis, porque está cheio de monopólios e mecanismos de supressão de mercado. Se o mercado estivesse a funcionar livremente, reduziria o preço da informação para perto de zero e não haveria modelo de negócio", escreve Mason.
Na realidade, não estamos a assistir a nada muito recente, mas sim a uma espécie de consagração do Movimento Software Livre, nascido na década de 1980, do qual haveria de brotar o Linux, um sistema operativo criado gratuitamente e em colaboração por centenas de programadores. Em 2014, estava instalado em 10% dos computadores empresariais de todo o mundo. Se estiver a ler este texto na web, é provável que esteja a usar outro mecanismo em código aberto: o Firefox tem cerca de 15% do mercado global de browsers; e mais de 80% dos smartphones correm o Android. São ambos "open source".
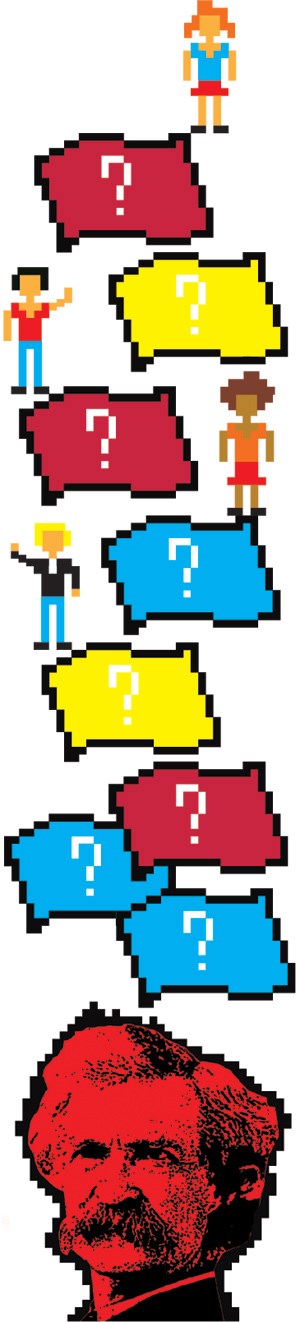 Ao mesmo tempo, a emergência das impressoras 3D permite que cada um de nós tenha uma minifábrica em casa e a Internet das Coisas liga tudo e todos em rede (pessoas, máquinas, recursos naturais, linhas de produção…). Em "A Sociedade do Custo Marginal Zero" (2014), Jeremy Rifkin defendeu uma tese semelhante à de Mason: o capitalismo está a ser eclipsado por uma nova economia colaborativa. "Mais de um terço da espécie humana produz a sua própria informação com recurso a telemóveis relativamente baratos e computadores, partilhando-a através de vídeo, áudio e texto a um custo marginal próximo de zero, num mundo interligado de bens comuns colaborativos", escreveu.
Ao mesmo tempo, a emergência das impressoras 3D permite que cada um de nós tenha uma minifábrica em casa e a Internet das Coisas liga tudo e todos em rede (pessoas, máquinas, recursos naturais, linhas de produção…). Em "A Sociedade do Custo Marginal Zero" (2014), Jeremy Rifkin defendeu uma tese semelhante à de Mason: o capitalismo está a ser eclipsado por uma nova economia colaborativa. "Mais de um terço da espécie humana produz a sua própria informação com recurso a telemóveis relativamente baratos e computadores, partilhando-a através de vídeo, áudio e texto a um custo marginal próximo de zero, num mundo interligado de bens comuns colaborativos", escreveu.Deixe o robô roubar-lhe o emprego
Outro motivo para a actual transformação ser diferente de avanços anteriores é o emprego. Até hoje, a inovação automatizou (ou, se quisermos, destruiu) postos de trabalho, mas criou outros novos e mais qualificados, com capacidade para gerar mais valor e receber salários mais elevados. Não é a isso que estamos a assistir agora. "A tecnologia de informação destrói mais empregos", diz Mason.
Se olharmos com atenção, já estamos a observar uma transformação do mercado laboral. Que novos empregos estão a ser criados à sua volta por indústrias vibrantes? Nos sectores tradicionais assiste-se a uma precarização das relações laborais, enquanto as empresas inovadoras não oferecem esperanças de emprego estável ou bem pago. Quase só nascem "empregos da treta". Veja-se o caso da Uber, que nem sequer classifica os seus trabalhadores como tal e que, nos EUA, lhes paga mais ou menos o mesmo que o salário mínimo (depois de descontadas as despesas). "Não é surpreendente que alguns [empresários] em Silicon Valley estejam a defender um rendimento mínimo incondicional providenciado pelo Estado. Percebem que o efeito de modelos como o da Uber é baixar tanto o rendimento [dos trabalhadores] que as pessoas não conseguem sobreviver e, portanto, não conseguem conduzir ubers", diz Mason, que vê no rendimento incondicional uma medida essencial para a transição.
E ainda nem falámos da possibilidade de o seu trabalho estar a ser feito por um robô dentro de poucos anos. Um estudo de 2013 da Universidade de Oxford deixou muitos arrepiados: até à década de 2030, 47% dos postos de trabalho dos EUA poderão estar automatizados. Metade dos empregos. Dificilmente escaparemos a esta vaga de automatização e, segundo o plano de Mason, não devemos fugir dela, mas sim abraçá-la.
Num mundo recheado de contradições, Mason propõe-nos que nos deixemos levar pelo nosso instinto e - sim, é verdade - pelo que nos diz o mercado. Tecnologicamente, estamos a avançar para preços zero, logo, trabalho que não pode ser pago. Devemos aproveitar a robotização e a pressão sobre os preços para nos libertarmos dos grilhões da ligação trabalho-salário. Quem escreve a Wikipédia não recebe dinheiro. Trocam "presentes" ou, se quiser, "boa vontade" e "felicidade". Mason imagina este modelo aplicado a uma grande fatia da economia.
Uma realidade que outros anteciparam há mais de 150 anos. Numa altura em que ainda não havia internet, processadores ou bases de dados. Numa economia em que as máquinas realizam a maior parte do trabalho e a função do homem é supervisionar, manter e concebê-las, a natureza do conhecimento encerrado no interior das máquinas deve ser "social". A principal força produtiva é a informação. O trabalhador "passa para o lado do processo de produção em vez de ser o seu principal actor". A tese é defendida em "Fragment on Machines", um texto de Karl Marx, que só foi traduzido para inglês há menos de 50 anos.
Liberdade vs. propriedade
Paul Mason conta que um dia perguntou a Larry Page o que mais desejava fazer na vida. O CEO da Google respondeu que gostaria de construir uma máquina que soubesse tudo. "Se fosse hoje, eu dir-lhe-ia que, enquanto todos nós, utilizadores do Google, não conseguirmos ver tudo o que tu, Larry Page, vês, a máquina não conseguirá saber tudo", sublinha. Por melhores que sejam os programadores da Google, a máquina seria sempre melhor se todos pudéssemos contribuir. "O mercado está a levar a uma subutilização da informação. Se o número de inputs e outputs é limitado pela propriedade, a informação nunca será tão boa como pode ser."
Isto significa que a informação nunca será totalmente livre enquanto houver um respeito pela propriedade tal qual a conhecemos. Ou respeitamos totalmente uma ou a outra. Conceder acesso universal à filmografia do Tarantino ou apenas a quem pode pagar para ir ao cinema? Há obviamente bons argumentos para defender que faz sentido manter a integridade da propriedade acima de tudo. Mas o debate vai mais longe do que a discussão moral e "o que deve ou não acontecer". A onda pode ser demasiado forte. A partilha é-nos instintiva. A lei diferencia uma "mixtape" para a nossa namorada de um "torrent" com o último álbum de Kanye West. Mas o impulso não é assim tão diferente. Apenas a escala.
"Hoje em dia, a principal contradição do capitalismo moderno é entre a possibilidade da existência de bens gratuitos e produzidos socialmente em abundância, e um sistema de monopólios, bancos e governos que lutam por manter o controlo do poder e da informação. Ou seja, está tudo impregnado por uma luta entre a rede e a hierarquia", critica Mason. Claro que isto levanta muitos problemas. Se os direitos de propriedade intelectual forem abolidos, como motivar alguém para gastar milhares de milhões em investigação? (Mason acha que eles devem continuar a existir, mas serem muito mais curtos); e como é que se paga a trabalhadores se o produto da empresa tiver um custo zero? Recuando até ao exemplo da Wikipédia, aqueles 120 mil colaboradores muito activos têm provavelmente empregos que lhes pagam um salário, que lhes permite comprar pão, ir ao cinema e, em última análise, sobreviver para editar a Wikipédia.
Mason reconhece que assim é, mas nota que se trata de uma fase de transição. À medida que uma fatia cada vez maior da economia passar a ser gerida numa lógica fora do mercado - e com a ajuda de mecanismos como o rendimento incondicional -, as coisas mudarão lentamente.
Marx dá voltas no túmulo
À primeira vista, poderia pensar que a tese de Mason seria bem recebida pela esquerda. Mas não é bem assim. Ele também parte de uma crítica feroz ao neoliberalismo, mas argumenta que as últimas décadas interromperam o ciclo de mais de duzentos anos: perante uma pressão dos patrões, os trabalhadores batiam o pé e, depois de um período de luta, chegava-se a um novo equilíbrio. Não foi isso que aconteceu desta vez. Devido à globalização (e muitos outros factores que não temos aqui espaço para enumerar), os trabalhadores capitularam perante as empresas, argumenta Mason. Há menos trabalhadores sindicalizados, um enorme declínio do seu poder negocial e uma queda dos salários em percentagem do PIB.
"Tornou-se impossível imaginar esta classe trabalhadora - desorganizada, subjugada pelo consumismo e pelo individualismo - derrubar o capitalismo", escreve Mason. "A velha sequência - greves gerais, barricadas, sovietes e um governo da classe trabalhadora - parece uma utopia num mundo cujo ingrediente-chave, a solidariedade no local de trabalho, prima pela ausência."
Paul Mason diz que Karl Marx estava errado. Sublinha que o marxismo é um magnífica teoria da História, capaz de compreender a relação entre classes, o poder, a tecnologia e, a partir daí, prever a actuação dos homens mais poderosos do mundo. Como teoria das crises? É muito mais limitado. Marx percebeu que o capitalismo é instável e frágil, mas subestimou a sua capacidade de adaptação. "Quanto mais o rosto de Marx encher as páginas dos principais jornais com notícias de pânico [...], maiores serão as hipóteses de eles tentarem repetir as experiências fracassadas dos discípulos de Marx: o bolchevismo e a abolição forçada do mercado."
Embora as perigosas fábricas do Bangladesh possam lembrar o primeiro contacto dos trabalhadores ingleses com a violência da revolução industrial, tem sido impossível criar algo que se assemelhe aos grandes movimentos sindicais que emergiram no mundo ocidental. Não será por isso o proletariado a levar esta agenda para a frente, mas sim um movimento mais fragmentado: empreendedores focados em "open source", activistas anticapitalistas e defensores de energias verdes. Mason argumenta que o protesto actual - nas ruas de Atenas, num acampamento em Madrid, no "Occupy" de Nova Iorque ou no Parque Gezi em Istambul - representa uma nova força social: os indivíduos ligados em rede. "Podem estar tão desorganizados estrategicamente como os trabalhadores do século XIX, mas já não são escravos do sistema, e estão extremamente insatisfeitos com o mesmo […] O neoliberalismo só lhes pode oferecer um mundo de crescimento estagnado e um Estado num nível de bancarrota: austeridade até à morte, mas com uma versão actualizada do iPhone lançada quase todos os anos."
Uma estrada com nevoeiro
Como seria de esperar num livro tão ambicioso - explicar a transição para todo um novo sistema económico -, Mason é muito mais claro na análise e crítica à situação actual do que na sugestão de soluções futuras. Fala em reduzir as emissões de CO2, "socializar a banca", reduzir a necessidade de trabalho e garantir o bem-estar da população. Pelo caminho sugere algumas medidas, como travar as privatizações, desmantelar monopólios como a Apple ou a Google, controlar politicamente os bancos centrais e o já referido rendimento incondicional. Mas ele próprio assume que seria transitório, porque o Estado é para desaparecer. Mas antes de ele se evaporar devíamos aproveitar para anular as dívidas e planear infra-estruturas… É fácil deixarmo-nos perder.
Mason faz uma crítica feroz (e sustentada) ao actual regime e propõe um novo modelo muito ambicioso. O problema é que tudo o que medeia esses dois momentos parece frágil. Sabe a pouco para uma transformação tão abrangente e estrutural. O final do livro é como conduzir por uma estrada com nevoeiro cerrado. Sabemos que não pretendemos ficar de onde viemos e queremos chegar ao novo destino, mas não é nada claro como o iremos fazer.
Tal como Karl Marx, talvez o papel de Paul Mason não seja tanto mostrar-nos o futuro numa bandeja, mas sim provocar-nos o suficiente para estimular a nossa crítica ao sistema que nos rodeia e procurar alternativas.