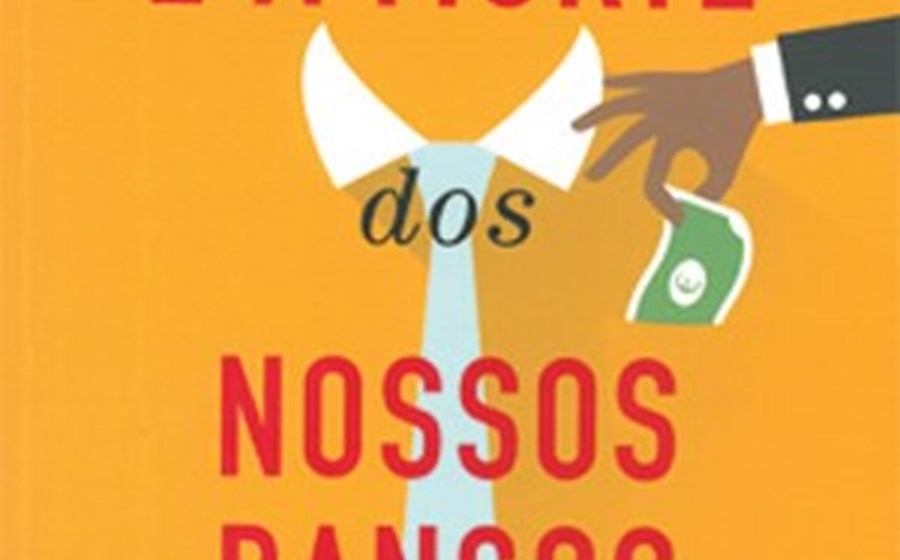Notícia
Banca para que te quero
Em dois anos, entraram em colapso dois bancos em Portugal. Outros têm passado um mau bocado. Na ressaca da grande farra de dívida, Helena Garrido conta como os banqueiros usaram o nosso dinheiro e ele desapareceu, num livro que quer contribuir para que os portugueses percebam como funciona o sistema financeiro.
25 de Novembro de 2016 às 11:42
Helena Garrido, "A Vida e a Morte dos Nossos Bancos", Contraponto, 215 páginas, 2016
"Hoje, a Caixa Geral de Depósitos poderia estar muito pior." A certeza é de Helena Garrido, autora do livro "A Vida e a Morte dos Nossos Bancos", editado este mês pela Contraponto. A situação do banco público, cuja nova administração tem um plano de recapitalização de cerca de 5 mil milhões de euros para implementar, podia ser neste momento ainda mais problemática. Bastaria imaginar, aponta a jornalista, que a CGD tinha sido envolvida na salvação do Grupo Espírito Santo, que tinha mantido a participação na PT ou no BCP. "Isso significaria que iria precisar de mais capital", assinala a autora. Fala-se agora de uma recapitalização de 5,16 mil milhões de euros. Será suficiente? "Ninguém sabe", diz.
No livro em que explica o processo de destruição da banca portuguesa, Helena Garrido conta que o banco público foi, dos três bancos - BCP, BES e CGD - que estiveram envolvidos em negócios que se identificaram como mais ruinosos -, o que teve reforços de capital mais limitados. Isto significa, afirma, que "há razões para crer que a Caixa ainda tem muitos negócios ruinosos para limpar". No livro, refere um conjunto de operações questionáveis, entre créditos concedidos e participações em capital, desde Vale do Lobo à expansão em Espanha. Mas é o projecto Artland que merece maior estupefacção da autora. A CGD entrou sozinha como financiadora e assumiu-se como terceira maior accionista do projecto liderado pelos espanhóis da La Seda, que prometia em 2011 exportar 700 milhões de euros de PTA, matéria-prima para a indústria de embalagens plásticas, automóvel e têxtil a partir de Sines. Para Helena Garrido, a participação da CGD neste negócio "devia ser investigada", devido à "irracionalidade que é um investimento daquela dimensão estar concentrado numa instituição financeira que é ao mesmo tempo accionista".
Para a autora, a CGD não está hoje pior graças à troika e ao Governo de Passos Coelho, que entendiam que a instituição não deveria ter participações em empresas, mas sim ser um banco puro que financiasse a economia. "Seja qual for a razão, estes últimos anos interromperam uma década e meia de captura do banco pelos interesses políticos dos governos, que protegeram empresários e negócios numa lógica de poder", afirma.
Ser ou não ser a irlanda
O pedido de ajuda feito por Portugal em 2011 fixou em 76 mil milhões de euros o apoio da troika ao país, dos quais 12 mil milhões reservados à capitalização da banca. Para Helena Garrido, houve "um factor que limitou o menu de soluções, que foi a dimensão da dívida pública". A jornalista não tem dúvidas de que o país nunca poderia ter aplicado uma solução como a espanhola (um resgate concentrado no sistema bancário) porque "tinha um problema de financiamento do Estado". Já o modelo à irlandesa, garante, chegou a ser discutido e a estar em cima da mesa, mas levaria "a uma necessidade de capitalização dos bancos de tal ordem que a dívida pública dispararia para níveis que exigiam a reestruturação da dívida portuguesa como já se estava a negociar para a Grécia". E isso era o que ninguém queria ouvir falar.
Já a receita seguida na Irlanda, conhecida por "modelo Blackrock, nome da consultora que o preparou, passava por simular que os bancos tinham de vender de imediato todos os activos como se estivessem à beira do colapso. Num cenário em que as vendas seriam feitas a desconto, a consequência era o apuramento de perdas elevadas. Só no início de 2016 é que o governador do Banco de Portugal revela que seriam necessários entre 48 e 56 mil milhões de euros para capitalizar a banca, em média, cerca de 30% do PIB de 2011, aponta a autora.
A prudência
"O campeão dos pedidos de mais dinheiro aos accionistas é o BCP. O montante solicitado pelo BPI aos accionistas entre 2008 e 2015 não chega a 400 milhões de euros. O que, no ambiente de incidentes de crédito que se vive, só pode ocorrer porque o banco não teve montantes elevados de financiamento que não foram pagos." Esta é uma das justificações que Helena Garrido aponta, no seu livro, para a situação distinta do BPI no panorama nacional. O banco, liderado por Fernando Ulrich, pediu ajuda do Estado, que já reembolsou na totalidade. "Os números dizem que o BPI foi bastante mais prudente e não se envolveu em negócios ruinosos." Como se lê no livro, há até quem diga que o BPI não é um banco, porque não corre riscos. O certo é que poucos projectos arriscados tem em carteira. A Impresa é dos poucos clientes a quem o BPI tem uma elevada exposição, conforme se pode ver na tabela publicada nesta obra, e revelada pela primeira vez, da exposição de crédito dos bancos a 12 grupos, que foi objecto do designado ETRICC 2 (avaliação aos créditos por parte do Banco de Portugal), e que explicam, no conjunto, 86% do reforço de imparidades que foi exigido pelo supervisor nacional.
 Foi o próprio Fernando Ulrich que manifestou publicamente a tese de que a culpa para o que se passou na banca não foi da crise. "Há bancos bem geridos, e há bancos mal geridos", disse. Outros argumentos se foram juntando, como o de o banco não ter tido a oportunidade de se sentar "na mesa da ganância", ou de ter três accionistas fortes, como o Itaú, La Caixa e Allianz. Mas também pode ser o perfil da gestão, diz Helena Garrido.
Foi o próprio Fernando Ulrich que manifestou publicamente a tese de que a culpa para o que se passou na banca não foi da crise. "Há bancos bem geridos, e há bancos mal geridos", disse. Outros argumentos se foram juntando, como o de o banco não ter tido a oportunidade de se sentar "na mesa da ganância", ou de ter três accionistas fortes, como o Itaú, La Caixa e Allianz. Mas também pode ser o perfil da gestão, diz Helena Garrido.
Certo é que o BPI também não se envolveu em avultadas compras de outras instituições. Falharam as fusões com o BCP e com o BES, bancos que tiveram graves problemas. O BCP à conta de compras de outros bancos e instituições financeiras que o levaram ao endividamento, tendo também passado por um fratricida processo de mudança de gestores. Além disso, também o banco liderado por Nuno Amado se expôs aos tais negócios ruinosos. "A curta história do BCP já dava um bom filme", escreve-se no livro. E é a propósito deste banco que é lembrada uma citação de Warren Buffett: "Quando a maré baixa é que se vê quem anda a nadar sem calções".
O banco tem, ainda, "um problema para resolver", mas, para já, tem um accionista - os chineses da Fosun - novo, que lhe pode dar um balão de oxigénio. Algo que no BES estoirou.
Queda da "família real"
Ninguém podia imaginar. "Havia a convicção de que Ricardo Salgado era intocável. Acontecesse o que acontecesse, ninguém teria coragem de tocar em Ricardo Salgado". Afinal, relata Helena Garrido, socorrendo-se de testemunhos que foi recolhendo para o livro, "as leis eram feitas no BES pela família Espírito Santo. Construiu políticos, construiu ministros, tinha um poder enorme, era a família real portuguesa". Era, pensava-se, uma aplicação segura. Mas se houve bancos que, a partir de 2013, retiraram financiamento ao Grupo Espírito Santo, outros houve que o mantiveram. Foi o caso do Banif, o segundo banco a cair no espaço de ano e meio. Havia, como se conta no livro, financiamentos cruzados entre Banif e BES, um alimentava o outro. Helena Garrido escreve mesmo que "há vários anos que o Banif e o BES tinham um acordo implícito para emprestarem dinheiro um ao outro e, assim, enganar o Banco de Portugal. Um entendimento entre famílias: a Roque e a Espírito Santo".
Mas o Banif tinha outros problemas, como se acaba por provar na comissão de inquérito. Era, há muito, um problema de difícil resolução. Nisso mesmo acreditou Vítor Gaspar que, no Governo de Passos Coelho, foi o ministro das Finanças na era troika. "A melhor decisão, olhando apenas para os números do Banif, é fechar o banco. Como vê Vítor Gaspar", diz-se no livro, com referência a 2012, acrescentando Helena Garrido que o problema era o próprio negócio: não dava dinheiro. O fecho não foi a opção nesse momento. A resolução do Banif só viria a acontecer em Dezembro de 2015, já depois da intervenção que ditou o fim do BES em Agosto de 2014, após ter sido recusada a Ricardo Salgado ajuda para salvar o grupo da família. "O homem que tinha idealizado e construído o grupo numa lógica de poder, influência e cumplicidade, com muitos negócios do Estado, está sem saídas". E os contribuintes também parecem estar.
A culpa é de todos
De quem é a culpa do que aconteceu à banca portuguesa? É de todos, responde Helena Garrido, para quem "se metermos a mão na consciência vemos que também estávamos eufóricos".
Em primeiro lugar, diz a jornalista, o responsável é o banqueiro, "que devia ser o guardião dos depósitos dos clientes". Segue-se a sociedade, os governos e o supervisor. Por esta ordem, aponta a autora do livro, que pretende contribuir para que os portugueses percebam como funciona o sistema financeiro e não peçam impossíveis. Helena Garrido nega que esteja a desresponsabilizar governos e supervisores. "Quando vamos a um restaurante, estamos confiantes que a comida não está estragada. Se estiver, não vamos responsabilizar a ASAE", compara.
No fim da grande farra de dívida, como lhe chama, o dinheiro não desapareceu. "Desapareceu dos bancos, mas foi para as mãos de alguém", garante. A banca já está fora de perigo? Para a jornalista, "é perigoso fazer previsões". Ainda assim, constata que o BPI tem o problema resolvido, o BCP vê entrar accionistas com bolsos cheios e o Novo Banco está a caminho de ser vendido. "Estamos a ver uma luz ao fundo do túnel que não víamos há meses".
"Hoje, a Caixa Geral de Depósitos poderia estar muito pior." A certeza é de Helena Garrido, autora do livro "A Vida e a Morte dos Nossos Bancos", editado este mês pela Contraponto. A situação do banco público, cuja nova administração tem um plano de recapitalização de cerca de 5 mil milhões de euros para implementar, podia ser neste momento ainda mais problemática. Bastaria imaginar, aponta a jornalista, que a CGD tinha sido envolvida na salvação do Grupo Espírito Santo, que tinha mantido a participação na PT ou no BCP. "Isso significaria que iria precisar de mais capital", assinala a autora. Fala-se agora de uma recapitalização de 5,16 mil milhões de euros. Será suficiente? "Ninguém sabe", diz.
Para a autora, a CGD não está hoje pior graças à troika e ao Governo de Passos Coelho, que entendiam que a instituição não deveria ter participações em empresas, mas sim ser um banco puro que financiasse a economia. "Seja qual for a razão, estes últimos anos interromperam uma década e meia de captura do banco pelos interesses políticos dos governos, que protegeram empresários e negócios numa lógica de poder", afirma.
Ser ou não ser a irlanda
O pedido de ajuda feito por Portugal em 2011 fixou em 76 mil milhões de euros o apoio da troika ao país, dos quais 12 mil milhões reservados à capitalização da banca. Para Helena Garrido, houve "um factor que limitou o menu de soluções, que foi a dimensão da dívida pública". A jornalista não tem dúvidas de que o país nunca poderia ter aplicado uma solução como a espanhola (um resgate concentrado no sistema bancário) porque "tinha um problema de financiamento do Estado". Já o modelo à irlandesa, garante, chegou a ser discutido e a estar em cima da mesa, mas levaria "a uma necessidade de capitalização dos bancos de tal ordem que a dívida pública dispararia para níveis que exigiam a reestruturação da dívida portuguesa como já se estava a negociar para a Grécia". E isso era o que ninguém queria ouvir falar.
Já a receita seguida na Irlanda, conhecida por "modelo Blackrock, nome da consultora que o preparou, passava por simular que os bancos tinham de vender de imediato todos os activos como se estivessem à beira do colapso. Num cenário em que as vendas seriam feitas a desconto, a consequência era o apuramento de perdas elevadas. Só no início de 2016 é que o governador do Banco de Portugal revela que seriam necessários entre 48 e 56 mil milhões de euros para capitalizar a banca, em média, cerca de 30% do PIB de 2011, aponta a autora.
A prudência
"O campeão dos pedidos de mais dinheiro aos accionistas é o BCP. O montante solicitado pelo BPI aos accionistas entre 2008 e 2015 não chega a 400 milhões de euros. O que, no ambiente de incidentes de crédito que se vive, só pode ocorrer porque o banco não teve montantes elevados de financiamento que não foram pagos." Esta é uma das justificações que Helena Garrido aponta, no seu livro, para a situação distinta do BPI no panorama nacional. O banco, liderado por Fernando Ulrich, pediu ajuda do Estado, que já reembolsou na totalidade. "Os números dizem que o BPI foi bastante mais prudente e não se envolveu em negócios ruinosos." Como se lê no livro, há até quem diga que o BPI não é um banco, porque não corre riscos. O certo é que poucos projectos arriscados tem em carteira. A Impresa é dos poucos clientes a quem o BPI tem uma elevada exposição, conforme se pode ver na tabela publicada nesta obra, e revelada pela primeira vez, da exposição de crédito dos bancos a 12 grupos, que foi objecto do designado ETRICC 2 (avaliação aos créditos por parte do Banco de Portugal), e que explicam, no conjunto, 86% do reforço de imparidades que foi exigido pelo supervisor nacional.
 Foi o próprio Fernando Ulrich que manifestou publicamente a tese de que a culpa para o que se passou na banca não foi da crise. "Há bancos bem geridos, e há bancos mal geridos", disse. Outros argumentos se foram juntando, como o de o banco não ter tido a oportunidade de se sentar "na mesa da ganância", ou de ter três accionistas fortes, como o Itaú, La Caixa e Allianz. Mas também pode ser o perfil da gestão, diz Helena Garrido.
Foi o próprio Fernando Ulrich que manifestou publicamente a tese de que a culpa para o que se passou na banca não foi da crise. "Há bancos bem geridos, e há bancos mal geridos", disse. Outros argumentos se foram juntando, como o de o banco não ter tido a oportunidade de se sentar "na mesa da ganância", ou de ter três accionistas fortes, como o Itaú, La Caixa e Allianz. Mas também pode ser o perfil da gestão, diz Helena Garrido. Certo é que o BPI também não se envolveu em avultadas compras de outras instituições. Falharam as fusões com o BCP e com o BES, bancos que tiveram graves problemas. O BCP à conta de compras de outros bancos e instituições financeiras que o levaram ao endividamento, tendo também passado por um fratricida processo de mudança de gestores. Além disso, também o banco liderado por Nuno Amado se expôs aos tais negócios ruinosos. "A curta história do BCP já dava um bom filme", escreve-se no livro. E é a propósito deste banco que é lembrada uma citação de Warren Buffett: "Quando a maré baixa é que se vê quem anda a nadar sem calções".
O banco tem, ainda, "um problema para resolver", mas, para já, tem um accionista - os chineses da Fosun - novo, que lhe pode dar um balão de oxigénio. Algo que no BES estoirou.
Queda da "família real"
Ninguém podia imaginar. "Havia a convicção de que Ricardo Salgado era intocável. Acontecesse o que acontecesse, ninguém teria coragem de tocar em Ricardo Salgado". Afinal, relata Helena Garrido, socorrendo-se de testemunhos que foi recolhendo para o livro, "as leis eram feitas no BES pela família Espírito Santo. Construiu políticos, construiu ministros, tinha um poder enorme, era a família real portuguesa". Era, pensava-se, uma aplicação segura. Mas se houve bancos que, a partir de 2013, retiraram financiamento ao Grupo Espírito Santo, outros houve que o mantiveram. Foi o caso do Banif, o segundo banco a cair no espaço de ano e meio. Havia, como se conta no livro, financiamentos cruzados entre Banif e BES, um alimentava o outro. Helena Garrido escreve mesmo que "há vários anos que o Banif e o BES tinham um acordo implícito para emprestarem dinheiro um ao outro e, assim, enganar o Banco de Portugal. Um entendimento entre famílias: a Roque e a Espírito Santo".
Mas o Banif tinha outros problemas, como se acaba por provar na comissão de inquérito. Era, há muito, um problema de difícil resolução. Nisso mesmo acreditou Vítor Gaspar que, no Governo de Passos Coelho, foi o ministro das Finanças na era troika. "A melhor decisão, olhando apenas para os números do Banif, é fechar o banco. Como vê Vítor Gaspar", diz-se no livro, com referência a 2012, acrescentando Helena Garrido que o problema era o próprio negócio: não dava dinheiro. O fecho não foi a opção nesse momento. A resolução do Banif só viria a acontecer em Dezembro de 2015, já depois da intervenção que ditou o fim do BES em Agosto de 2014, após ter sido recusada a Ricardo Salgado ajuda para salvar o grupo da família. "O homem que tinha idealizado e construído o grupo numa lógica de poder, influência e cumplicidade, com muitos negócios do Estado, está sem saídas". E os contribuintes também parecem estar.
A culpa é de todos
De quem é a culpa do que aconteceu à banca portuguesa? É de todos, responde Helena Garrido, para quem "se metermos a mão na consciência vemos que também estávamos eufóricos".
Em primeiro lugar, diz a jornalista, o responsável é o banqueiro, "que devia ser o guardião dos depósitos dos clientes". Segue-se a sociedade, os governos e o supervisor. Por esta ordem, aponta a autora do livro, que pretende contribuir para que os portugueses percebam como funciona o sistema financeiro e não peçam impossíveis. Helena Garrido nega que esteja a desresponsabilizar governos e supervisores. "Quando vamos a um restaurante, estamos confiantes que a comida não está estragada. Se estiver, não vamos responsabilizar a ASAE", compara.
No fim da grande farra de dívida, como lhe chama, o dinheiro não desapareceu. "Desapareceu dos bancos, mas foi para as mãos de alguém", garante. A banca já está fora de perigo? Para a jornalista, "é perigoso fazer previsões". Ainda assim, constata que o BPI tem o problema resolvido, o BCP vê entrar accionistas com bolsos cheios e o Novo Banco está a caminho de ser vendido. "Estamos a ver uma luz ao fundo do túnel que não víamos há meses".