Notícia
O encontro singular entre António Lobo Antunes e Eduardo Lourenço
António Lobo Antunes e Eduardo Lourenço encontraram-se no Festival Internacional de Cultura de Cascais. Um contou histórias, o outro falou de um império que já não existe. Uma conversa para memória futura.
Não vou escrever sobre a senhora sentada ao lado esquerdo que se queixa do odor a tabaco do meu casaco.
- Não suporto o cheiro.
- Compreendo. Não faz mal, também o ia despir.
- Não leva a mal.
- Não levo.
- O meu filho também fuma muito.
Já escrevi.
Não vou escrever sobre a amiga da senhora sentada a meu lado que fala em inglês, putativamente para escapar ao radar dos que gostam de captar conversas alheias. Tresanda a snobismo.
A senhora, cinquentenária, usa meias de adolescente, com imitações de rasgado, para escapar ao inexorável.
A senhora pega no telemóvel e urge o marido para se juntar a ela no auditório.
Ele diz que não, está no bar, onde através de uma televisão poderá acompanhar a conversa entre Eduardo Lourenço e António Lobo Antunes.
Como o compreendo.
Já escrevi.
Não vou escrever sobre o senhor que na fila de trás se queixa do atraso. Então não acha inconcebível chegarem tão tarde, diz para quem o quer ouvir, e que no final perdoa a afronta juntando-se ao coro de aplausos.
Já escrevi.
[A conversa entre Eduardo Lourenço e António Lobo Antunes marcada para 30 de Setembro, na Casa das Histórias Paula Rego, devia ter começado às 21h30, Eduardo Lourenço chega com 31 minutos de atraso. Às 22h11, através do sistema áudio da sala, uma voz pede desculpa e explica que "um problema de saúde de fácil resolução de um dos conferencistas" - António Lobo Antunes - está na origem da demora].
Não vou escrever sobre a senhora sentada ao lado esquerdo que a meio da conferência resolveu descalçar os sapatos. Estive para fazer uma analogia entre cheiros, o dos pés e o do tabaco, contive-me.
Já escrevi.
Eduardo Lourenço está sentado numa das duas cadeiras dispostas no palco, de onde contempla um auditório cheio. Quem chegou em cima da hora senta-se nas escadas ou dispõe-se a ouvir de pé.
Alguém pede a Eduardo Lourenço que comece a conversa sozinho. "Não posso sem o principal autor dela", responde. Chega António Lobo Antunes e as palmas com que é recebido significam que a irritação pelo atraso ficou aparentemente para trás.
Eduardo Lourenço inicia a conversa e dá-lhe um título académico - "Requiem Por Um Império Que Nunca Nos Existiu". Quer levá-la pelos caminhos da memória imperial portuguesa, socorre-se das "Cartas da Guerra" de António Lobo Antunes. O filme que lhe deu origem, ajuíza, é uma "obra notável", as cartas são "a vida póstuma do nosso império", uma "obra importante para fazer o luto".
"Nós somos subservientes de um império que já não existe" e "o fim desse império não é assim tão definitivo porque existe uma impressão de memória, de lembrança. Por isso, argumenta, as "belas cartas" que António Lobo Antunes escreve à mulher, Maria José, a partir de Angola, entre 1971 e 1973, são uma forma de "reinventar uma África e fazer o luto dela".

Como é que ele vê hoje essas cartas, pergunta Eduardo a António.
A interrogação fica sem resposta. António muito dificilmente fala da guerra colonial e das suas cartas. Prefere levar a conversa para o território pacífico da afectividade. "Antes de conhecer o Eduardo comecei por o ler. O intelectual, o professor que me deu um retrato do país diferente daquilo a que estava habituado."
António verbaliza o que sente. "Tenho enorme respeito, muito amor" pelo Eduardo, "é a pessoa que melhor sabe ler o nosso país". "Ama de olhos abertos. Tenho pena de que ele não seja mulher." Com esta declaração, António ganha a cumplicidade da plateia. E junta-lhe uma peculiaridade. "Demorava 10 minutos para andar cinco metros. Sabia-me bem."
O escritor mantém o discurso cativante e elogia a forma como Eduardo sempre analisou Portugal. "Embora nunca deixasse de ser um olhar apaixonado, nunca deixou de ser um olhar objectivo" ou, outra forma de dizer a mesma coisa, "um olhar cheio de amor mas impiedoso". E António volta ao território dos afectos. "A sua cabeça seduz-me muito. Não é feio, até parece um bocadinho o Salazar." A comparação é recebida com risos.
Eduardo Lourenço e António Lobo Antunes foram os dois convidados do último dia do Festival Internacional de Cultura, que decorreu durante todo o mês de Setembro em Cascais. A organização classificou-o como um "encontro singular", um adjectivo objectivamente apropriado.
António desvia-se para as suas preferências literárias. Antero de Quental [1842-1891], uma das "grandes paixões", Fernão Lopes, "um génio absoluto", que na "Crónica de El'rei D. João I" foi capaz de levantar uma cidade inteira através da escrita. Por analogia, também Eduardo Lourenço "é capaz de erguer um país inteiro com poucas palavras".
António volta a Antero. A primeira vez que António publicou foi aos 18 anos, quando estava na Faculdade de Medicina. Um trabalho sobre a psicose maníaco-depressiva (com a ajuda do professor Miller Guerra) que conduziu Antero ao suicídio. António recorda um episódio entre Antero e Eça. Antero estava a destruir poesia, dobrava as folhas meticulosamente, primeiro em duas e depois em quatro partes, e acto seguinte destruía-as. Porquê, perguntou-lhe Eça. "Até no delírio é necessário ordem", retorquiu-lhe Antero.
Eduardo intervém para resgatar António do passado. "Nós estamos aqui para falar de um vivo que és tu e de um menos vivo que sou eu." A plateia volta a rir. Naturalmente. E Eduardo classifica António. "Não é um autor fácil, tem de ser lido linha a linha, é violento e terno. De uma singularidade fantástica. Eu gosto de o ler pausadamente. É um autor exigente, duro, difícil." Com uma de muitas peculiaridades. "Ele não gosta muito de críticos, sobretudo dos intelectuais. Estamos os dois paradoxalmente de acordo, mas isto é masoquismo", diz o intelectual Eduardo que volta às cartas de António, "a compreensão de uma outra África", uma África que estava "submersa", importantes para "fazer o luto de uma prepotência histórica".
António, define Eduardo, é como Sherazade. "Podia estar aqui a noite inteira a encantar-nos com histórias. Eu não tenho esse dom. Tenho o dom da escuta, mas não o dom de contar", lamenta.
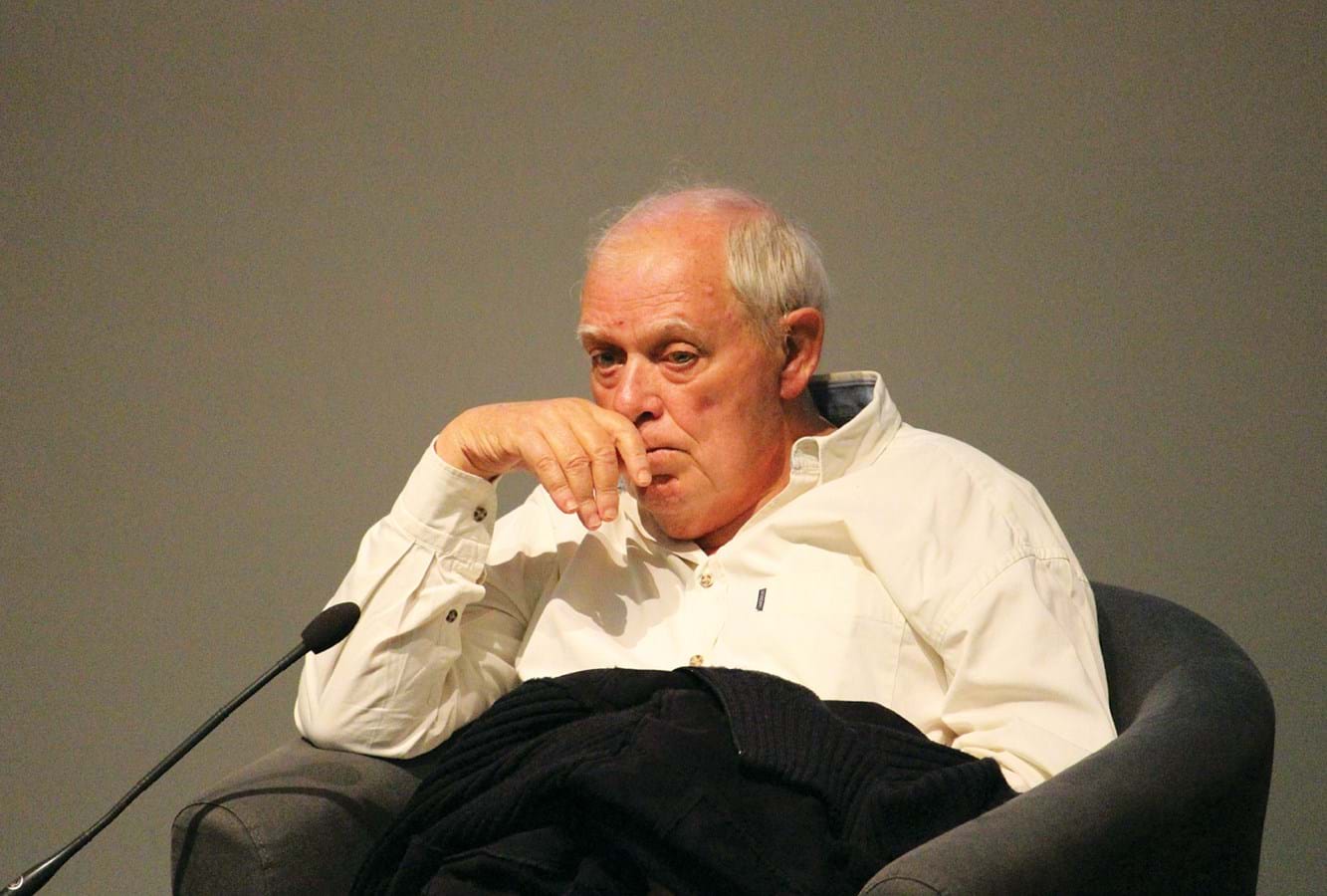
António faz-lhe a vontade e numa única história concentra intelectuais e o seu dom narrativo. A história passa-se quando António era psiquiatra no Hospital Miguel Bombarda e a escritora Maria Velho da Costa andava pelos corredores e recolher material de trabalho, enquanto cantarolava músicas de Roberto Carlos como "a namorada de um amigo meu". António estranhou a dicotomia e procurou uma resposta. Foi então que Maria Velho da Costa lhe fez a seguinte definição de intelectual (e antes de a proferir António desculpou-se pelos termos): "Muita chatice e pouca foda." A desculpa foi concedida na forma de gargalhadas generalizadas e António ratificou a asserção de Eduardo. "A maior parte dos intelectuais são chatos como a porra. Ele (Eduardo) não é. Acho os neo-realistas uns chatos. O Vergílio Ferreira é um chato."
"A guerra que os escritores têm uns com os outros é uma coisa infinita. E era assim no tempo dos gregos. A coisa que mais delicia os escritores é não pensarem bem do vizinho", comenta Eduardo.
António regressa ao Miguel Bombarda e volta a ser Sherazade, evocando um dia em que estava de serviço, à noite. "Vieram dizer-me que estava um homem à janela, a gritar, a gritar. Eu lá fui e ele estava realmente à janela a gritar. E ia para trás, para a esquerda, para a direita, para o lado. Uma berraria, ninguém dormia. Ele era campino, ribatejano, e nós só o tratávamos por Dom Manuel. Tinha uma psicose sifilítica, com delírio de grandeza, e era dono de tudo. De Portugal, da Fundação Gulbenkian, do casino de Monte Carlo. Passava-nos cheques de 200 milhões de contos, num bocado de papel. E nessa noite perguntei ao Dom Manuel porque é que ele estava assim à janela. E então explicou-me. Havia uma grande seca em Espanha, Espanha era toda dele como calculam, e ele estava a resolver o problema. Pôs-se a gritar e juntou uma manada enorme de cavalos e fazia-os galopar numa praia do Sul de Espanha. Quando já estavam cansados, os cavalos entravam na água e quando saíam, com a mistura do suor e do calor, aquilo levantava nevoeiro e nuvens que subiam e o Dom Manuel estava a empurrar as nuvens para a sua propriedade em Espanha para a chuva cair ali porque havia uma grande seca. Eu fiquei aflitíssimo. Então o homem está mesmo a fazer chover, há uma grande seca em Espanha, o que vou fazer. O enfermeiro já estava com uma seringa para dar uma injecção ao Dom Manuel para ele se acalmar e eu disse - não vai nada que ele está a fazer uma coisa utilíssima, está a fazer chover. Isto é autêntico. E era Dom Manuel porque era o rei de Portugal, claro. Dava a mão esquerda e tratava-me por menino, mas com desprezo."
 A constatação de que não é apenas uma história de entretém, embora tenha tido o efeito de encantar os ouvintes, surge na frase seguinte. "Escrever é um bocado isto. É fazer de Dom Manuel e guiar as nuvens para onde a chuva é preciso." Sustentados por uma convicção que tem de ser absoluta: "Se não estamos convencidos de que somos os melhores não vale a pena."
A constatação de que não é apenas uma história de entretém, embora tenha tido o efeito de encantar os ouvintes, surge na frase seguinte. "Escrever é um bocado isto. É fazer de Dom Manuel e guiar as nuvens para onde a chuva é preciso." Sustentados por uma convicção que tem de ser absoluta: "Se não estamos convencidos de que somos os melhores não vale a pena."
Eduardo regressa à dimensão da escrita. "Os autores são os seus textos e o que eles podem fazer ao lado é uma coisa secundária. Depois, pega no livro de António, "O Esplendor de Portugal" (publicado em 1997) para conferir uma natureza circular à conversa.
"Compreendi que a casa estava morta quando os mortos principiaram a morrer. O meu filho Carlos, em criança, julgava que o relógio de parede era o coração do mundo e tive vontade de sorrir por saber há muito que o coração do mundo não estava ali connosco, mas além do pátio e do bosque de sequóias, no cemitério onde no tempo do meu pai enterravam lado a lado os pretos e os brancos do mesmo modo que antes do meu pai, na época do primeiro dono do girassol e do algodão, sepultaram os brancos que passeavam a cavalo e davam ordens e os pretos que trabalharam as lavras neste século e no anterior e no anterior ainda, um rectângulo vedado por muros de cal, o portão aberto à nossa espera com um crucifixo em cima, lousas e lousas sem nenhuma ordem nem datas nem relevos nem nomes no meio do capim, salgueiros que não cresciam, ciprestes secos, um plinto para as despedidas em que os gatos do mato dormiam, enfurecendo-se para nós a proibir-nos a entrada. O autêntico coração das casas eram as ervas sobre as campas ao fim da tarde ou no princípio da noite, dizendo palavras que eu entendia mal por medo de entender, não o vento, não as folhas, vozes que contavam uma história sem sentido de gente e bichos e assassínios e guerra como se segredassem se parar a nossa culpa, nos acusarem, refutando mentiras, que a minha família e a família antes da minha tinham chegado como salteadores e destruído África, o meu pai aconselhava.
- Não ouças".
Fim da sessão.
- Não suporto o cheiro.
- Não leva a mal.
- Não levo.
- O meu filho também fuma muito.
Já escrevi.
Não vou escrever sobre a amiga da senhora sentada a meu lado que fala em inglês, putativamente para escapar ao radar dos que gostam de captar conversas alheias. Tresanda a snobismo.
A senhora, cinquentenária, usa meias de adolescente, com imitações de rasgado, para escapar ao inexorável.
A senhora pega no telemóvel e urge o marido para se juntar a ela no auditório.
Ele diz que não, está no bar, onde através de uma televisão poderá acompanhar a conversa entre Eduardo Lourenço e António Lobo Antunes.
Como o compreendo.
Já escrevi.
Não vou escrever sobre o senhor que na fila de trás se queixa do atraso. Então não acha inconcebível chegarem tão tarde, diz para quem o quer ouvir, e que no final perdoa a afronta juntando-se ao coro de aplausos.
Já escrevi.
[A conversa entre Eduardo Lourenço e António Lobo Antunes marcada para 30 de Setembro, na Casa das Histórias Paula Rego, devia ter começado às 21h30, Eduardo Lourenço chega com 31 minutos de atraso. Às 22h11, através do sistema áudio da sala, uma voz pede desculpa e explica que "um problema de saúde de fácil resolução de um dos conferencistas" - António Lobo Antunes - está na origem da demora].
Não vou escrever sobre a senhora sentada ao lado esquerdo que a meio da conferência resolveu descalçar os sapatos. Estive para fazer uma analogia entre cheiros, o dos pés e o do tabaco, contive-me.
Já escrevi.
Eduardo Lourenço está sentado numa das duas cadeiras dispostas no palco, de onde contempla um auditório cheio. Quem chegou em cima da hora senta-se nas escadas ou dispõe-se a ouvir de pé.
Alguém pede a Eduardo Lourenço que comece a conversa sozinho. "Não posso sem o principal autor dela", responde. Chega António Lobo Antunes e as palmas com que é recebido significam que a irritação pelo atraso ficou aparentemente para trás.
Eduardo Lourenço inicia a conversa e dá-lhe um título académico - "Requiem Por Um Império Que Nunca Nos Existiu". Quer levá-la pelos caminhos da memória imperial portuguesa, socorre-se das "Cartas da Guerra" de António Lobo Antunes. O filme que lhe deu origem, ajuíza, é uma "obra notável", as cartas são "a vida póstuma do nosso império", uma "obra importante para fazer o luto".
"Nós somos subservientes de um império que já não existe" e "o fim desse império não é assim tão definitivo porque existe uma impressão de memória, de lembrança. Por isso, argumenta, as "belas cartas" que António Lobo Antunes escreve à mulher, Maria José, a partir de Angola, entre 1971 e 1973, são uma forma de "reinventar uma África e fazer o luto dela".

Eduardo Lourenço
"As Cartas da Guerra são a vida póstuma do nosso império. São uma forma de reinventar uma África e fazer o luto dela. Eu gosto de o ler pausadamente."
Como é que ele vê hoje essas cartas, pergunta Eduardo a António.
A interrogação fica sem resposta. António muito dificilmente fala da guerra colonial e das suas cartas. Prefere levar a conversa para o território pacífico da afectividade. "Antes de conhecer o Eduardo comecei por o ler. O intelectual, o professor que me deu um retrato do país diferente daquilo a que estava habituado."
António verbaliza o que sente. "Tenho enorme respeito, muito amor" pelo Eduardo, "é a pessoa que melhor sabe ler o nosso país". "Ama de olhos abertos. Tenho pena de que ele não seja mulher." Com esta declaração, António ganha a cumplicidade da plateia. E junta-lhe uma peculiaridade. "Demorava 10 minutos para andar cinco metros. Sabia-me bem."
O escritor mantém o discurso cativante e elogia a forma como Eduardo sempre analisou Portugal. "Embora nunca deixasse de ser um olhar apaixonado, nunca deixou de ser um olhar objectivo" ou, outra forma de dizer a mesma coisa, "um olhar cheio de amor mas impiedoso". E António volta ao território dos afectos. "A sua cabeça seduz-me muito. Não é feio, até parece um bocadinho o Salazar." A comparação é recebida com risos.
Eduardo Lourenço e António Lobo Antunes foram os dois convidados do último dia do Festival Internacional de Cultura, que decorreu durante todo o mês de Setembro em Cascais. A organização classificou-o como um "encontro singular", um adjectivo objectivamente apropriado.
António desvia-se para as suas preferências literárias. Antero de Quental [1842-1891], uma das "grandes paixões", Fernão Lopes, "um génio absoluto", que na "Crónica de El'rei D. João I" foi capaz de levantar uma cidade inteira através da escrita. Por analogia, também Eduardo Lourenço "é capaz de erguer um país inteiro com poucas palavras".
António volta a Antero. A primeira vez que António publicou foi aos 18 anos, quando estava na Faculdade de Medicina. Um trabalho sobre a psicose maníaco-depressiva (com a ajuda do professor Miller Guerra) que conduziu Antero ao suicídio. António recorda um episódio entre Antero e Eça. Antero estava a destruir poesia, dobrava as folhas meticulosamente, primeiro em duas e depois em quatro partes, e acto seguinte destruía-as. Porquê, perguntou-lhe Eça. "Até no delírio é necessário ordem", retorquiu-lhe Antero.
Eduardo intervém para resgatar António do passado. "Nós estamos aqui para falar de um vivo que és tu e de um menos vivo que sou eu." A plateia volta a rir. Naturalmente. E Eduardo classifica António. "Não é um autor fácil, tem de ser lido linha a linha, é violento e terno. De uma singularidade fantástica. Eu gosto de o ler pausadamente. É um autor exigente, duro, difícil." Com uma de muitas peculiaridades. "Ele não gosta muito de críticos, sobretudo dos intelectuais. Estamos os dois paradoxalmente de acordo, mas isto é masoquismo", diz o intelectual Eduardo que volta às cartas de António, "a compreensão de uma outra África", uma África que estava "submersa", importantes para "fazer o luto de uma prepotência histórica".
António, define Eduardo, é como Sherazade. "Podia estar aqui a noite inteira a encantar-nos com histórias. Eu não tenho esse dom. Tenho o dom da escuta, mas não o dom de contar", lamenta.
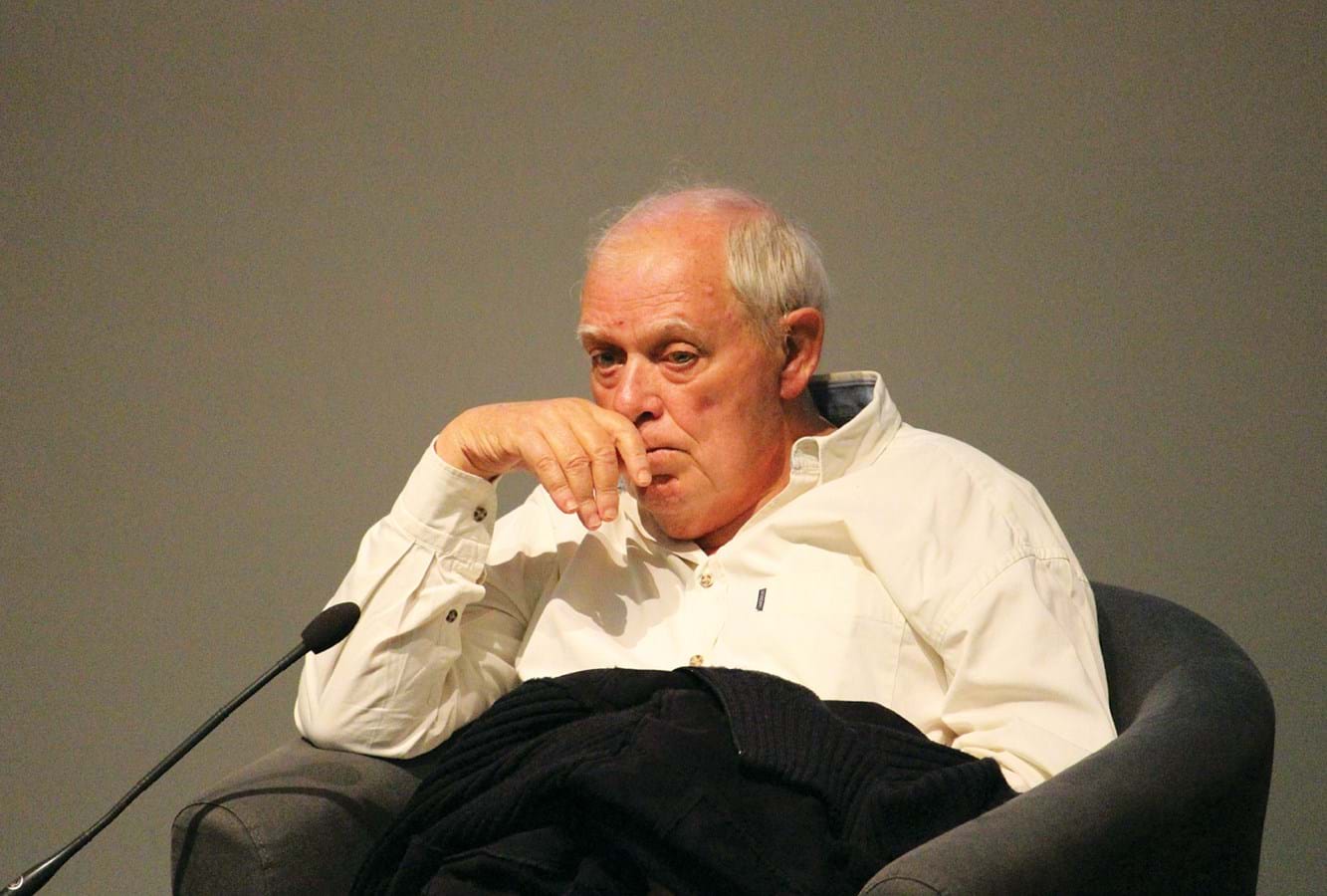
António Lobo Antunes
"O Eduardo é a pessoa que melhor sabe ler o nosso país. Embora nunca deixasse de ser um olhar apaixonado, nunca deixou de ser objectivo."
António faz-lhe a vontade e numa única história concentra intelectuais e o seu dom narrativo. A história passa-se quando António era psiquiatra no Hospital Miguel Bombarda e a escritora Maria Velho da Costa andava pelos corredores e recolher material de trabalho, enquanto cantarolava músicas de Roberto Carlos como "a namorada de um amigo meu". António estranhou a dicotomia e procurou uma resposta. Foi então que Maria Velho da Costa lhe fez a seguinte definição de intelectual (e antes de a proferir António desculpou-se pelos termos): "Muita chatice e pouca foda." A desculpa foi concedida na forma de gargalhadas generalizadas e António ratificou a asserção de Eduardo. "A maior parte dos intelectuais são chatos como a porra. Ele (Eduardo) não é. Acho os neo-realistas uns chatos. O Vergílio Ferreira é um chato."
"A guerra que os escritores têm uns com os outros é uma coisa infinita. E era assim no tempo dos gregos. A coisa que mais delicia os escritores é não pensarem bem do vizinho", comenta Eduardo.
António regressa ao Miguel Bombarda e volta a ser Sherazade, evocando um dia em que estava de serviço, à noite. "Vieram dizer-me que estava um homem à janela, a gritar, a gritar. Eu lá fui e ele estava realmente à janela a gritar. E ia para trás, para a esquerda, para a direita, para o lado. Uma berraria, ninguém dormia. Ele era campino, ribatejano, e nós só o tratávamos por Dom Manuel. Tinha uma psicose sifilítica, com delírio de grandeza, e era dono de tudo. De Portugal, da Fundação Gulbenkian, do casino de Monte Carlo. Passava-nos cheques de 200 milhões de contos, num bocado de papel. E nessa noite perguntei ao Dom Manuel porque é que ele estava assim à janela. E então explicou-me. Havia uma grande seca em Espanha, Espanha era toda dele como calculam, e ele estava a resolver o problema. Pôs-se a gritar e juntou uma manada enorme de cavalos e fazia-os galopar numa praia do Sul de Espanha. Quando já estavam cansados, os cavalos entravam na água e quando saíam, com a mistura do suor e do calor, aquilo levantava nevoeiro e nuvens que subiam e o Dom Manuel estava a empurrar as nuvens para a sua propriedade em Espanha para a chuva cair ali porque havia uma grande seca. Eu fiquei aflitíssimo. Então o homem está mesmo a fazer chover, há uma grande seca em Espanha, o que vou fazer. O enfermeiro já estava com uma seringa para dar uma injecção ao Dom Manuel para ele se acalmar e eu disse - não vai nada que ele está a fazer uma coisa utilíssima, está a fazer chover. Isto é autêntico. E era Dom Manuel porque era o rei de Portugal, claro. Dava a mão esquerda e tratava-me por menino, mas com desprezo."
 A constatação de que não é apenas uma história de entretém, embora tenha tido o efeito de encantar os ouvintes, surge na frase seguinte. "Escrever é um bocado isto. É fazer de Dom Manuel e guiar as nuvens para onde a chuva é preciso." Sustentados por uma convicção que tem de ser absoluta: "Se não estamos convencidos de que somos os melhores não vale a pena."
A constatação de que não é apenas uma história de entretém, embora tenha tido o efeito de encantar os ouvintes, surge na frase seguinte. "Escrever é um bocado isto. É fazer de Dom Manuel e guiar as nuvens para onde a chuva é preciso." Sustentados por uma convicção que tem de ser absoluta: "Se não estamos convencidos de que somos os melhores não vale a pena." Eduardo regressa à dimensão da escrita. "Os autores são os seus textos e o que eles podem fazer ao lado é uma coisa secundária. Depois, pega no livro de António, "O Esplendor de Portugal" (publicado em 1997) para conferir uma natureza circular à conversa.
"Compreendi que a casa estava morta quando os mortos principiaram a morrer. O meu filho Carlos, em criança, julgava que o relógio de parede era o coração do mundo e tive vontade de sorrir por saber há muito que o coração do mundo não estava ali connosco, mas além do pátio e do bosque de sequóias, no cemitério onde no tempo do meu pai enterravam lado a lado os pretos e os brancos do mesmo modo que antes do meu pai, na época do primeiro dono do girassol e do algodão, sepultaram os brancos que passeavam a cavalo e davam ordens e os pretos que trabalharam as lavras neste século e no anterior e no anterior ainda, um rectângulo vedado por muros de cal, o portão aberto à nossa espera com um crucifixo em cima, lousas e lousas sem nenhuma ordem nem datas nem relevos nem nomes no meio do capim, salgueiros que não cresciam, ciprestes secos, um plinto para as despedidas em que os gatos do mato dormiam, enfurecendo-se para nós a proibir-nos a entrada. O autêntico coração das casas eram as ervas sobre as campas ao fim da tarde ou no princípio da noite, dizendo palavras que eu entendia mal por medo de entender, não o vento, não as folhas, vozes que contavam uma história sem sentido de gente e bichos e assassínios e guerra como se segredassem se parar a nossa culpa, nos acusarem, refutando mentiras, que a minha família e a família antes da minha tinham chegado como salteadores e destruído África, o meu pai aconselhava.
- Não ouças".
Fim da sessão.





























