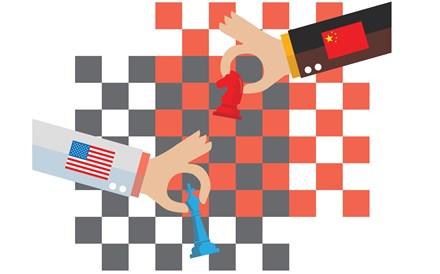Está a terminar uma semana agitada no que diz respeito às relações internacionais e ao jogo geopolítico. Depois de uma reunião virtual dura, esta terça-feira, entre o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, para debater a crescente tensão militar junto à fronteira com a Ucrânia, a Casa Branca promove agora uma Cimeira para a Democracia, que junta mais de 100 países.
O encontro virtual, que decorre esta semana, pretende, por um lado, separar as águas entre estados democráticos e autocráticos e, por outro, debater temas como a liberdade, a luta contra o autoritarismo, o combate contra a corrupção e a promoção dos direitos humanos. Esta era uma promessa eleitoral de Biden, numa tentativa de responder ao enfraquecimento dos sistemas democráticos nos EUA e na Europa.
"A verdade dura e crua é que as democracias liberais estão em risco existencial e remetidas há vários anos a uma posição defensiva", afirma Tiago Moreira de Sá, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI/NOVA) e especialista em política externa norte-americana. Por isso, o primeiro objetivo deste encontro "é convocar o mundo democrático para inverter o que o famoso cientista político norte-americano Larry Diamond chamou de "recessão democrática".
Alguns analistas temem, no entanto, que apesar de a intenção ser boa, os danos colaterais deste encontro, que junta não só líderes políticos mas também a sociedade civil, possam ser maiores do que os benefícios.
A ideia base é que "as democracias liberais estão corroídas por dentro com o crescimento do populismo de tendências autoritárias e com a corrupção". Por isso, as democracias têm de se juntar e enfrentar esses problemas, explica Álvaro Vasconcelos, especialista em segurança e geopolítica. Esse é o aspeto positivo da cimeira. O problema é a sua dimensão geoestratégica, em que de um lado estão as democracias e, do outro, os regimes autoritários. "É como se isto fosse essencialmente a criação de uma grande coligação antichinesa, o lançamento de um combate ideológico, em que a democracia é superior ao autoritarismo."
Basta olhar para os participantes para tirar essa conclusão. Tanto estão na lista de convidados países democráticos como democracias frágeis – como é o caso das Filipinas, do Paquistão e da Índia. No entanto, ficou de fora a Hungria, o único país da União Europeia que não recebeu convite, e a Turquia, que é membro da NATO, o que está a criar mal-estar na Aliança Atlântica. Tudo isto acontece "num contexto em que se está a negociar a revisão do novo Conceito Estratégico da NATO", realça Luís Tomé, coordenador científico do OBSERVARE – Observatório de Relações Exteriores.
Esta exclusão da Turquia pode, por isso, "ser contraproducente no quadro multilateral de uma organização de defesa coletiva e de segurança como é a NATO". Isto porque "o processo de decisão na Aliança Atlântica é por consenso, haver países aliados indispostos uns com os outros é algo que torna mais difíceis as decisões coletivas".
Por outro lado, aponta o especialista em relações internacionais, ficar fora da cimeira para as democracias pode ter o efeito de aproximar mais a Turquia dos rivais dos EUA – a Rússia e a China. E isso terá repercussões na região do Médio Oriente. No fundo, "este é um jogo de ação-reação".
Talvez esta escolha possa parecer desastrada, mas está inserida numa estratégia da Casa Branca. "A administração Biden tem como linha orientadora a criação de uma frente de democracias contra as grandes autocracias, em particular a China e a Rússia", explica Luís Tomé. Para atingir esse objetivo, Biden retomou a aposta no chamado "soft power" da diplomacia americana, ou seja, o poder de atração e de persuasão dos EUA, que tinha sido posto de parte pelo seu antecessor Donald Trump.
Essa retoma ficou visível no "apoio ao multilateralismo e às convenções internacionais", com o regresso dos EUA ao Acordo de Paris e à Organização Mundial da Saúde (OMS) e também ao tomar a iniciativa de promover reuniões de alto nível, por exemplo, no combate às alterações climáticas. "Tudo isto faz parte de uma manobra de ‘soft power’ que Biden pretende introduzir no sistema internacional, tentando afastar-se do legado da administração anterior."
No fundo, o que voltou com Joe Biden foi o "poder da diplomacia", defende Tiago Moreira de Sá. "Houve uma valorização do Departamento de Estado e dos diplomatas de carreira, que foram muito mal tratados pela administração anterior." De facto, acrescenta, "reparar a diplomacia dos Estados Unidos pode ser um dos legados mais importantes do atual Presidente". A diplomacia está novamente na primeira linha da ação da América, "sendo o uso do poder militar o último recurso, o que, infelizmente, nem sempre foi o caso desde o fim da Guerra Fria".