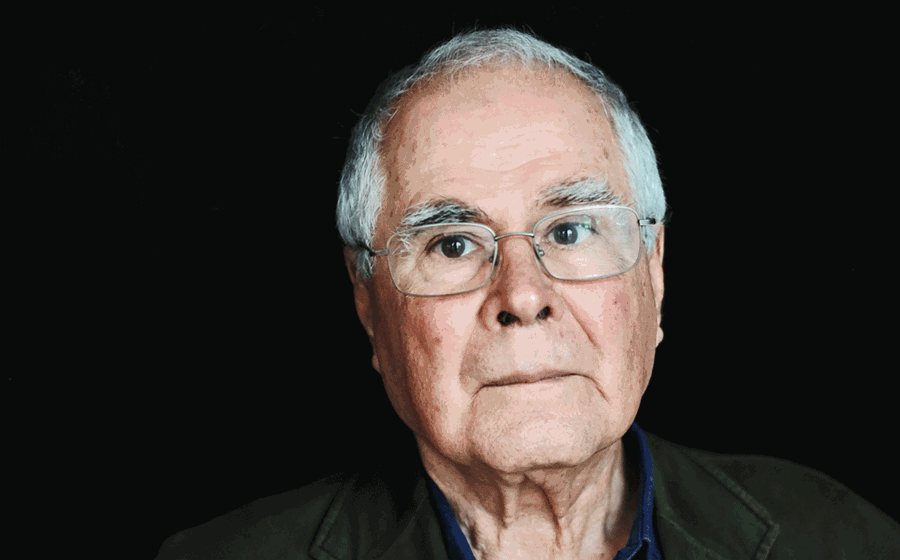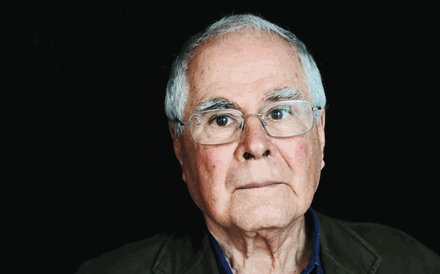Notícia
José Gil: Esta tragédia é em parte o nosso espelho
"Precisamos de olhar para o espelho, mas esse olhar não nos pode petrificar numa culpabilização, sob o risco de nos desresponsabilizarmos face à tragédia dos fogos", diz o filósofo José Gil, autor de obras como "Portugal Hoje, O Medo de Existir". É preciso agir, mas agir pensando. É preciso pensar, mas pensar agindo. "Habituámo-nos a pensar, a pensar e a gostar de pensar, e a julgar até que basta pensar para que tudo se resolva. Não chega pensar". Mas, para o filósofo, o pragmatismo do primeiro-ministro, António Costa, foi tão longe que o levou a esquecer-se da dimensão da afectividade, aquela que estará a ser inscrita pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. "Pensar o Estado dos afectos não é ridículo."
Diz imenso, a tragédia é reveladora de um estado de coisas global, que cai sob a ideia, no meu entender, de não-inscrição, ou seja, esta tragédia não é só um acontecimento público, ela atinge vidas humanas a políticas nacionais, com tudo o que uma política nacional tem de imbricado com a política internacional. Portanto, isto é enorme. Enorme. Não ligamos ao nosso passado e também não ligamos ao nosso presente. Se não tivesse havido uma tragédia tão grande e se não tivesse existido a intervenção do Presidente da República, e o modo como a fez, não estaríamos, talvez, com vontade de mudar as coisas. Como todos disseram, isto iria passar. Mais uma vez.
Precisamos de uma "revolução" de mentalidades? E isso é possível?
Eu acho que sim, e quando digo que é preciso uma revolução, sei bem que a palavra revolução é imediatamente conotada com planos unicamente políticos, jurídicos, etc. Quando falo em revolução, falo numa transformação, numa mutação radical, que pode não ser feita através de revoluções políticas. Há aqui toda uma dimensão social e espiritual... Mas tenho a impressão de que aquilo que se está a começar a fazer é capaz de não continuar. Receio de que continuemos com o desleixo, o esquecimento e a desvalorização a que está sujeita uma parte importantíssima da nossa sociedade, da nossa comunidade nacional.
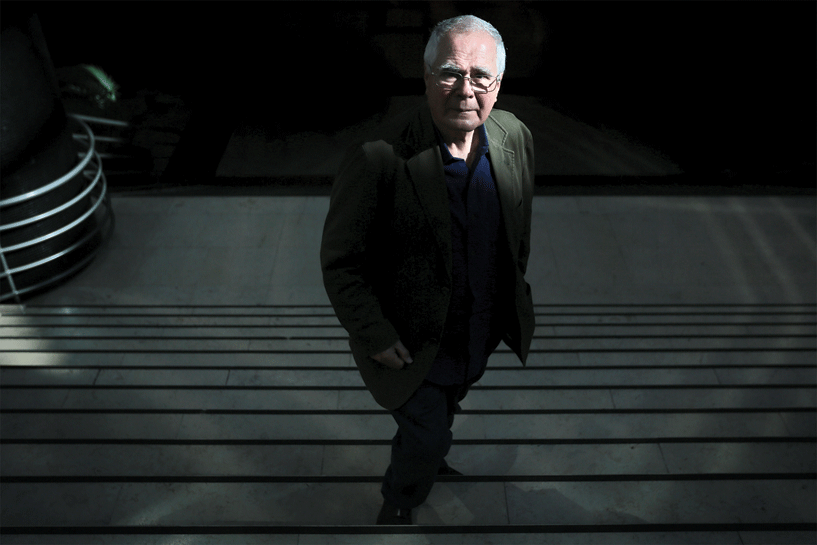
Mesmo que os afectos do Presidente da República possam, talvez, integrar uma estratégia pessoal? Esta afectividade precisa de ser inscrita na política nacional?
Sim, não interessa se é ou não estratégia. Não interessa! Primeiro de tudo, seria necessário ser um actor genial para que não houvesse a revelação de uma mentira emocional, e não é o caso do Presidente. Não estou a dizer que ele é extraordinário, não estou de acordo com muita coisa que faz, mas aquilo que está a fazer agora é uma coisa única, é a inscrição dos afectos no discurso político. A não-inscrição dessa afectividade é algo estrutural na política nacional. O que aconteceu com a intervenção de Marcelo tem de ser pensado em sentido estrutural e não como uma manifestação pessoal ou como estratégia pessoal de carinho, de afecto ou de consolação individual às pessoas. Não!
O que anuncia, e ele coordenou essa prática de afectos com a crítica que fez à política do Governo, é que a questão dos afectos é estrutural. É preciso que a questão seja reflectida pelos intelectuais, que pensam, por exemplo, o estado de afectos em Espinosa. Claro, quando falamos de um Estado dos afectos, as pessoas riem-se, acham ridículo. Não é! Pensar o Estado dos afectos não é ridículo. Compreendo António Costa quando diz que conteve as emoções e que deveria tê-las mostrado mais, "mas eu sou assim". Mas não é disso que se trata, não se trata de mostrar os afectos. Não se trata de afectividade como expressão de emoções pessoais, trata-se de integrar o que os afectos pressupõem num projecto político de combate aos fogos, de valorização da nossa cultura rural, do património, de compreender que aquele passado que está passado e que vai desaparecer permanece um bocadinho vivo nessas pessoas – e que tudo isso é nosso, é o nosso presente que também é feito desse passado. E nós agimos como se esse passado não existisse mais, como se não contasse.
É algo que vai além da proximidade.
É mais do que proximidade. Proximidade é uma palavra que está sempre a ser empregada – "vamos aproximar a política do povo". Aqui, trata-se do contrário. Vamos integrar na política, na medida das possibilidades, o povo, a sua cultura, aquilo que está ultrapassado, aquilo que vai morrer, mas que existe hoje. E integrar o povo e a cultura na política significa que os projectos têm em conta as pessoas. É preciso que tal seja feito nacionalmente e é preciso modificar a maneira de executar, porque a maneira de executar conta imenso. Não devemos fazer um projecto político de indemnização e de ajuda às pessoas de uma maneira apenas burocrática, as pessoas deveriam poder participar, na medida das suas capacidades, nesta execução.
Um envolvimento de todos. A tragédia mostrou, talvez, que vivemos numa espécie de ilhas não comunicantes, das instituições aos cidadãos. Fechados sobre nós mesmos.
Absolutamente, e uma das maneiras de comunicar é precisamente através dos afectos. Repare numa coisinha que tem o seu significado e é importante – ouvi o Marcelo a falar sobre o período actual do sofrimento das pessoas, caracterizando-o como a saudade dolorosa, que não é a saudade doce que vem depois. Não é incrível...? São pequeninas fenomenologias do luto e da saudade, é aquilo que os psicanalistas e os filósofos fazem, e ele está a fazê-lo ao nível mais alto do Estado. No meu entender, ele está a ultrapassar-se a ele próprio, tem uma receptividade tão grande ao acontecimento que é levado pelo acontecimento além dele próprio. E estas palavras sobre saudade dolorosa ou saudade doce que vem depois foram ditas numa conferência sobre o balanço das iniciativas do Governo contra os fogos. No discurso político, aquele homem está a pensar o sofrimento real das pessoas, está a fazer aquilo que os pensadores fazem quando estudam o luto. Qual é a importância disto? Além de ser revelador do que é aquele indivíduo e de não ser habitual ter no Presidente da República um pensador desse tipo, mostra que está a ouvir o sofrimento do povo. E quem é ele? Ele acaba por ser o Estado. Não é incrível?
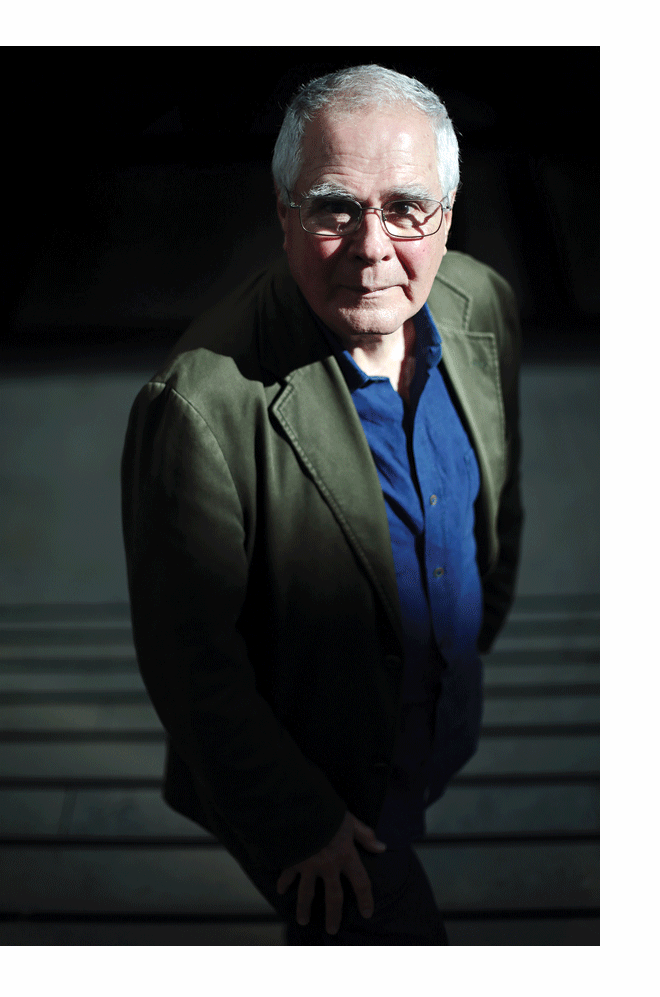 Mas o sofrimento das pessoas não estará a ser demasiado exposto?
Mas o sofrimento das pessoas não estará a ser demasiado exposto?
Não, ai não, isto não tem que ver com a mediatização do sofrimento, é outra coisa completamente diferente, não está a resvalar para a mediatização. E, se está, é em tal televisão e outra, mas há imediatamente vozes que dizem que isso é demais.
Alheámo-nos do nosso território, quando também somos feitos de território?
De terra e de território que, no sentido mais natal da palavra, é aquele espaço a que chamo espaço de abrigo, uma noção que vem da psiquiatria, e um espaço de abrigo é essencial. O território é uma das dimensões do nosso espaço de abrigo. E está aí qualquer coisa que é extremamente injusta – nós, citadinos, nós, urbanos, vivemos uma espécie de impunidade leviana, esquecendo-nos do território porque o território existe. É porque ele existe que nós somos assim. Se ele não existisse, não éramos assim. Quer dizer, ele existe por causa dessa gente que ainda continua lá, por causa dessa gente que o mantém, sem os meios, sem a valorização, sem o reconhecimento de que essas pessoas nos pertencem, a nós, também. Está a ver a revolução que isto implica nas mentalidades…? É uma coisa enorme. Deixemos a palavra revolução, falemos em mudança, transformação. Mas verificamos que não há nenhum partido que dê importância à afectividade, olham para a afectividade como se fosse um apêndice. Não é.
É preciso que a devastação do fogo não se apague da memória à custa do jogo político, escreveu, no Negócios, António José Teixeira.
Isso mesmo. E o que é o processo da passagem da não-inscrição, da irresponsabilidade e do esquecimento, para a inscrição através de uma tragédia? É uma coisa muitíssimo complexa. Tentando ser simples, é preciso que o sofrimento, a profundidade e a disseminação desse sofrimento, que atinge múltiplos domínios, seja um impulso à nossa acção presente, é preciso que o sofrimento esteja presente na nossa acção. Isso é a inscrição. E não é necessário que o sofrimento se inscreva conscientemente como, por exemplo, na tragédia do Holocausto, que está a ser inscrita e a ser constantemente lembrada por causa dos judeus. Mas não interessa unicamente lembrar, é preciso que a lembrança se interiorize e se integre em nós, é preciso que essa lembrança nos leve, também, à acção.
Temos de pensar para agir, não basta pensar, impera aqui uma urgência.
No meu entender, há qualquer coisa na nossa maneira de ser, nos nossos hábitos ou mentalidades, e que vem de muito longe, sobretudo do antigo regime, que é o facto de as nossas iniciativas não terem necessariamente um efeito prático. Habituámo-nos a pensar, a pensar e a gostar de pensar, e a julgar até que basta pensar para que tudo se resolva. Isto é uma sintomatologia bem precisa. Comparemos com os brasileiros – eles estão a pensar para imediatamente fazer, eles pensam já com a dimensão do exequível naquilo que pensam. E nós continuamos a pensar, alegremente, como grandes pensadores. Isso tem de mudar. Não chega pensar. Um dos contributos para isso começou com o António Costa e o seu pragmatismo. Mas, paradoxalmente, o pragmatismo de Costa neste caso foi tão longe que o levou a esquecer-se da outra dimensão. É algo complexo. O Costa percebeu uma coisa importantíssima: para não haver trauma, sobretudo trauma político, era preciso agir imediatamente. Depois de ter deixado a ministra da Administração Interna [Constança Urbano de Sousa] continuar em funções, de repente percebeu que era preciso agir de imediato. Bom, agir imediatamente é necessário, mas também é um perigo, é preciso que essa acção seja inseminada, precisamente, por afectos e por compreensão daquilo que se está a dizer.
E, às vezes, até por algum silêncio, para as pessoas fazerem o luto.
Absolutamente de acordo.
Falava em transformação. Será esta uma oportunidade colectiva? Disse-me que tem a impressão de que aquilo que se está a começar a fazer é capaz de não continuar…
É muito cedo para falar, mas qualquer coisa de novo apareceu realmente, até pela importância orçamental das medidas anunciadas, são quase 500 milhões, isso é enorme e não se pode levianamente esquecer, isto inscreve-se de alguma maneira. Simplesmente, aquilo que vejo é que o discurso dos partidos já está um bocadinho no outro plano, no plano habitual. Quando falo em transformação profunda e radical, não tenho ilusão, isso não pode ser feito, mas alguma coisa se está fazendo. É pouco, mas é importante.
Neste momento, já não olhamos para o interior como olhávamos há uns meses, já começamos a pensar a cultura daquelas pessoas, que também é nossa, já começamos a pensar naquilo que se calhar começámos a pensar muitas vezes, mas depois esquecemos. E isso demonstra uma clivagem ancestral que temos entre as cidades e o campo. É uma clivagem política e cultural – os nossos intelectuais também não se interessam. Por exemplo, trabalhei etnologicamente o interesse pela feitiçaria, pelas crenças, pela magia – que constitui uma parte imensa da textura cultural portuguesa – e isso não era interessante para os etnólogos portugueses em geral, interessava-lhes antes os sistemas políticos portugueses, as relações políticas, o que é natural. As pessoas que se interessavam por quem trabalhava num monte algarvio ou noutro sítio não tinham eco, porque a sociedade está-se absolutamente nas tintas para esse tipo de cultura, isso não interessa, o que interessa é a alta cultura do Eça de Queirós.
A resposta às pessoas que reagem agressivamente e me dizem: mas o que é que tu queres, queres voltar ao passado?! De maneira alguma, sei que o passado é impossível de recuperar, sei que esse tecido está a dissolver-se e a desaparecer, se não desapareceu já em muitos sítios, é toda uma cultura que vai acabar, mas não acaba porque está também em nós. Há bocado, disse-me: eu sou o pinhal…
Sim, é uma frase de um amigo e sentida por muitos.
A tragédia provoca uma comunicação afectiva nacional que nos tira do nosso isolamento, da nossa atomização social, e isso também tem de ser reconhecido e mantido, na medida do possível. Fico um bocado chocado com o facto de não haver em nenhum partido uma linguagem realmente consciente de que estão ali pessoas que pertencem à nossa comunidade, pessoas que estão a sofrer e que nos fazem sofrer. O discurso torna-se político, cada vez mais político. Hoje, os jornais já estão outra vez no plano mais político, asseptizado, que é o nosso, o tal plano da não-inscrição. Julga-se que os afectos são uma manifestação emotiva pessoal. Como dizem os marxistas, o que interessa é a estrutura, vai-se embora um homem, a estrutura continua, o que sociologicamente está ultrapassadíssimo. Há que reconhecer que os afectos fazem parte da estrutura e começar a fazer com que realmente seja assim.
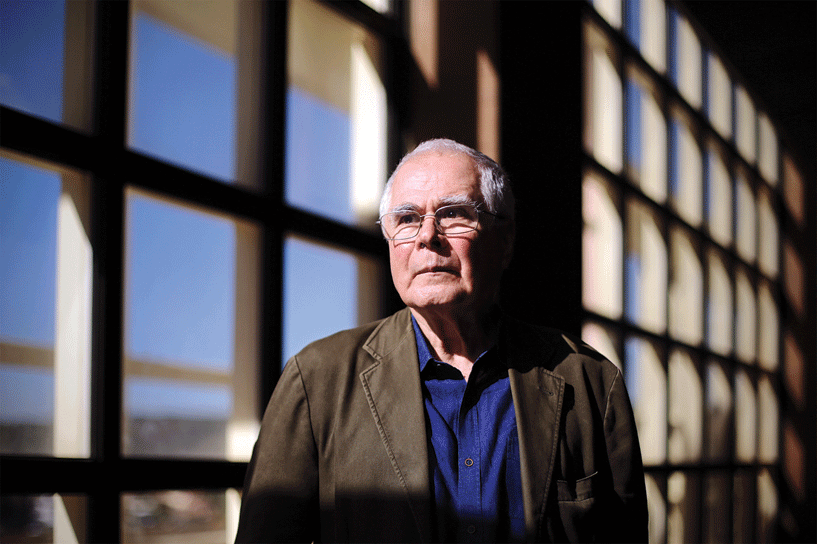
Mas o discurso de colocar os afectos na política não traz, também, perigo de populismos?
Claro, o risco de populismo é precisamente fazer uma espécie de discurso sem prática, o perigo é fazer um discurso da necessidade dos afectos e da necessidade de uma política afectiva e, no fundo, aquilo que se diz é: eu sou o único que reivindica e que propõe essa política, ou seja, não interessa nada a política dos afectos, interessa sim o discurso e o efeito do discurso nos rivais políticos. Aí, estamos no plano da politiquice.
E, como diz, não podemos cair na tal impunidade do tempo.
Já estamos mais ou menos a entrar nela, um bocadinho, e isto não é realmente uma transformação revolucionária, política, etc., nós vamos continuando os nossos hábitos de cultura política, de plano ideal político habitual. Ao mesmo tempo, como dizia, há qualquer coisa que estará a modificar-se, está qualquer coisa a acontecer, qualquer coisa que é pequena, mas que é diferente. Porque aconteceu isto. Concorreram muitos planos para o mesmo objectivo, e de repente, há qualquer coisa que vai passar para as novas maneiras de agir. Hoje estamos a olhar para o nosso campo e para o nosso interior de uma forma diferente, não se sabe bem como, mas estamos. Portanto, qualquer coisa aconteceu que não vai ser apagada, esquecida, não-inscrita. Qualquer coisa se inscreve, mas é sempre indirectamente.
Precisamos de olhar para o espelho e para esta tragédia que é o nosso espelho?
Sim, esta tragédia é em parte o nosso espelho, mas é preciso ter muitos cuidados. Esse olhar para o espelho não nos pode petrificar numa culpabilização. Olhemo-nos ao espelho, mas vamos ver se modificamos a imagem que ali temos, a boa consciência não pode vir da má consciência, não vamos por aí, por aí não se consegue nada. A cultura da inscrição é uma cultura da responsabilização e de tentar "destraumatizar" o que é necessariamente traumático.
Uma senhora de Pampilhosa da Serra, cuja casa foi parcialmente destruída pelo incêndio, ofereceu uma garrafa de aguardente a Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República falou, então, "num mundo de pernas para o ar". É assim o nosso mundo?
É, é o mundo de pernas para o ar. Mas, sabe, isso toca num aspecto que corresponde de certa maneira ao modo como a cultura portuguesa se expressa. A cultura portuguesa é uma cultura muito comedida em certos aspectos, é uma cultura que não é uma cultura de excesso, excepto talvez num plano, e que é precisamente o plano dos afectos. Somos capazes de uma ternura infinita, com tudo o que isso traz de patológico também, de uma ternura extraordinária. E depois não sabemos ver o que é a afectividade, porque vemos na afectividade um apêndice que nada tem que ver com a vida pública, pelo contrário, encaramo-la como um exibicionismo, uma sedução, como fazendo parte de estratégias políticas, quando, na verdade, a afectividade faz parte da nossa cultura profunda. Saber integrar, desfazendo, mas incorporando a afectividade na política…, essa é uma arte que temos de aprender e, aqui, o Marcelo está a dar um exemplozinho de como fazer. Não é que ele tenha a fórmula, não tem, mas toca numa coisa essencial à nossa cultura e à nossa acção. Quando a senhora idosa dá uma garrafa de aguardente…, o que é isso senão a afectividade que provoca um acto? Nós somos assim.
 Somos assim, mobilizamo-nos imediatamente a seguir às tragédias, mas depois tendemos a dispersarmo-nos.
Somos assim, mobilizamo-nos imediatamente a seguir às tragédias, mas depois tendemos a dispersarmo-nos.
Esquecemos. Saltitamos, esquecemos. Saltitamos de uma coisa para a outra, andamos sempre a saltitar, ao passo que a inscrição, a memória, oferece uma continuidade que nos traz consistência, para não falar em identidade, de nós próprios. Na inscrição, há como que uma apropriação da nossa própria vida, ao passo que saltando, saltando e saltando estamos sempre fora de nós, e isso é o habitual.
Precisamos de uma espécie de New Deal que nos comprometa, a todos, na protecção da nossa floresta e da nossa cultura popular?
Absolutamente. Se começarmos a ver em que é que nos podemos e devemos comprometer mais, reparamos que a educação nas escolas é fundamental para transmitir às crianças o que é a nossa cultura e o nosso campo.
O que sente necessidade de dizer aos nossos políticos?
Eu pediria talvez, e se isto vale a pena individualmente, que às vezes parassem para pensar, para deixar um vazio entrar na cabeça, um vazio de todas as iniciativas políticas e necessidades de acção imediata, para pensar naquilo que se passou. Não é para voltar a uma culpabilização, é para pensar. Jogou-se aqui qualquer coisa que insemina e alimenta a política, mas que desaparece, não está visível. Olhar para isso, de vez em quando, é bom... Vivi muito tempo lá fora e, quando cheguei a Portugal, fiquei muito espantado com o facto de não haver praticamente pensamento a partir da nossa vida nacional, não havia pensamento filosófico, então apercebi-me de que existia um passado fortíssimo que estava em ruptura precisamente com o presente, que só se alimentava das ideias do estrangeiro. A única filosofia que procurava pensar de uma certa maneira, a que não adiro, era a dita filosofia portuguesa. Seria importante pensar na nossa cultura nacional e falar a partir dela. Infelizmente, não falar sobre isso é algo secular.
Parte disso virá do "medo de existir"?
Virá, virá. Tenho sempre a ideia de que temos sempre muitas forças que hibernam, que não estão acordadas dentro de nós e que é preciso acordar. Infelizmente, aconteceu qualquer coisa que nos acordou um pouco, não vamos fechar os olhos, não vamos entrar no processo de não-inscrição. A passagem da não inscrição para a inscrição é algo muito complexo. Temos de fazer com que a tragédia e o sofrimento sejam nossos, porque são nossos, é preciso que queiramos fazer algo com este sofrimento, porque isso une-nos, dá-nos comunhão, coesão, pertença. Porque é que parece ser preciso uma tragédia…? As forças que nos separam do nosso território, do nosso povo e da nossa comunidade estão de tal maneira enraizadas que só uma tragédia é capaz de nos unir. Com a tragédia, percebemos a união que temos com desconhecidos que todos os dias ignoramos porque achamos que não pertencem à nossa vida. De repente, percebemos que sim, que pertencem à nossa vida. Como? Já lá estavam?