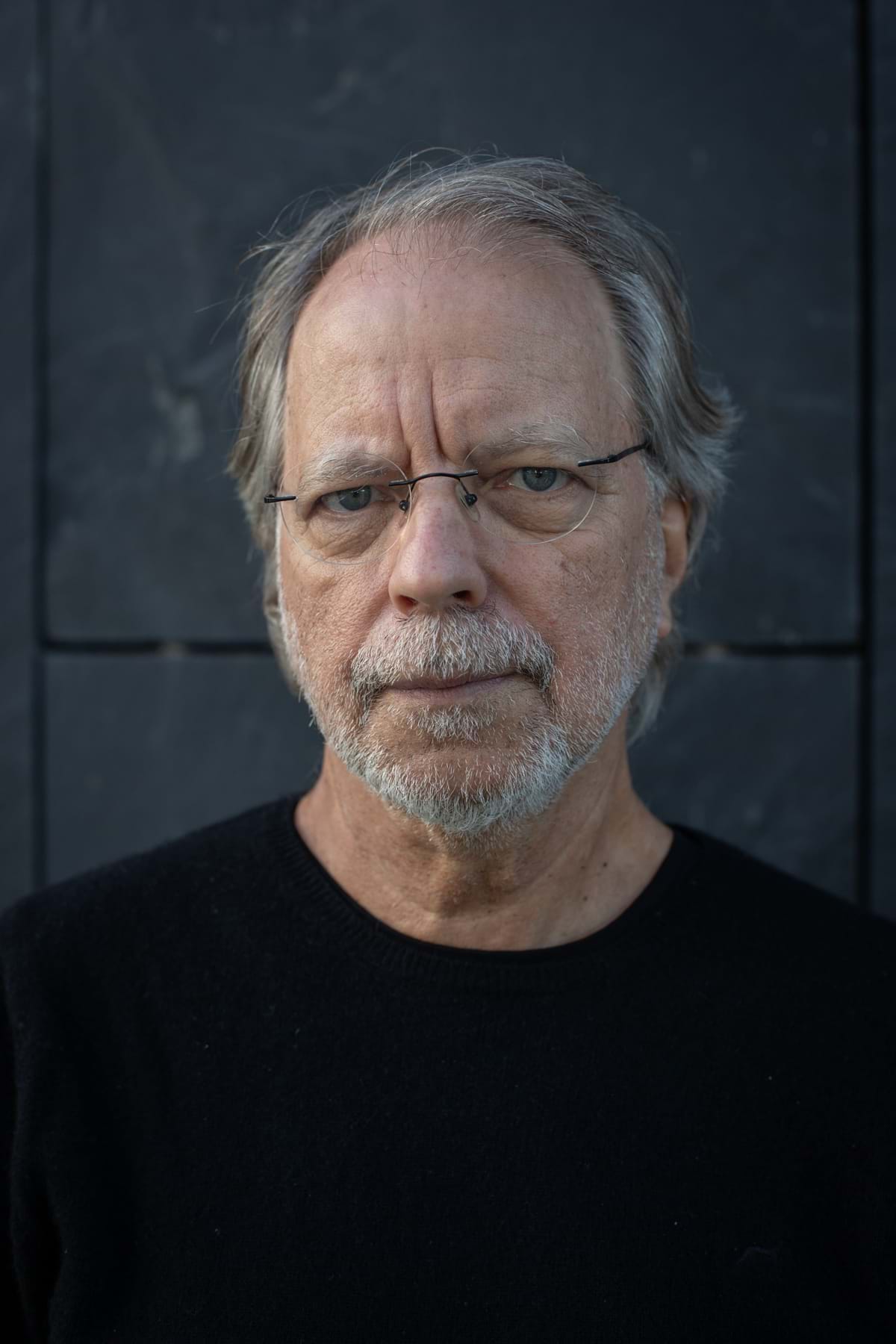Foi a tentativa de apagar uma página da História que puxou o novelo da escrita de Mia Couto. Em agosto de 1914, um ataque alemão a um posto militar português numa aldeia de Moçambique envolveu a morte de um sargento e de onze sipaios africanos. Todos quiseram esquecer este episódio que aconteceu nas margens do rio Rovuma às portas da Primeira Grande Guerra. E, porque quiseram esquecer, Mia Couto sentiu-se à vontade para inventar. Tinha licença para entrar na chamada grande História. O seu novo livro, "A Cegueira do Rio", fala-nos sobre vários apagamentos, incluindo o da escrita, e é precisamente um convite a uma outra escrita e à possibilidade de escrever a História em conjunto. Ou, "se vamos esquecer, ao menos esqueçamos juntos". É essa sabedoria que o escritor moçambicano deseja também para o seu país. "Vivi 16 anos de guerra civil; não quero mais".
* Entrevista publicada originalmente a 15 de novembro de 2024
Há uma doença conhecida como cegueira dos rios, a oncocercose, mas o seu novo livro chama-se "A Cegueira do Rio", no singular – porque há um só rio, um rio que adoece, que fica cego e impede o fluxo da História? Porque cada rio são todos os rios?
Um dos personagens do meu livro sofre dessa doença de facto, mas o meu editor, Zeferino Coelho, aconselhou-me a não escolher para título Cegueira dos Rios, achava que perdia o tom poético que eu queria dar, e então optei pelo singular, "A Cegueira do Rio". É como se esse rio que inaugura a história, que é a primeira epígrafe, adoecesse dessa cegueira que é deixar de poder circular, porque, se não adoecer, um rio volta a ser nuvem, volta a ser água, mas, como enuncia o provérbio na abertura do livro, há um ciclo que se quebra por causa de um incidente histórico junto ao rio Rovuma. É como se aquele território fosse um território mais líquido do que sólido, um lugar em que a transição de identidades acontece o tempo inteiro. A Lúcia pode acordar mulher e de repente transformar-se em árvore e depois ficar rio e depois pedra. Essa mobilidade ontológica está presente de tal maneira que me pareceu que havia ali um lugar que nos fazia dissolver e que de repente éramos parte desse rio, um rio que nos punha em contacto, um rio que nos unia a todos.
Nesse lugar de transição de identidades, Deus é também uma mulher e a figura de Cristo tem seios. A religião é vivida de forma diferente?
Ali, Deus é singular e ao mesmo tempo plural, porque, sendo mulher, consubstancia-se em várias formas e também na forma dos antepassados que vêm ter connosco, que não morrem, que estão presentes, de tal maneira que também cogovernam a nossa vida. Desde o centro de Moçambique até ao norte, há realmente um mundo matriarcal em que a centralidade é feminina. Nesses lugares, existem as rainhas. Mas também existem os reis. Não há uma identidade bem clara e definida. Existem várias identidades do ponto de vista de repartição do poder. Mas é um mundo muito feminino, sim.
Rio é água que engravida, respondeu-lhe uma mulher daquele mesmo lugar. Para os europeus, o Rovuma era uma fronteira que separava a África Oriental Portuguesa da África Oriental Alemã. Para os africanos, o rio era como uma mulher que engravidava com as grandes chuvas…
Essa cosmogonia acontece do norte a sul do país; em todos os lugares de Moçambique, os rios têm alma, têm fala e vida, são móveis, existem dentro e fora de nós. O que me levou a este território em particular foi a ocorrência daquele grande incidente que rasgou o mundo e cegou o rio. Esse episódio convocou-me no sentido de perceber que existia ali uma coisa particular e rara: o apagamento daquele mesmo lugar. Havia uma coincidência extraordinária – todos queriam esquecer, todos queriam apagar o lugar. Tanto os europeus, alemães ou portugueses, como os africanos, tinham esse desejo em comum. Normalmente, na História, os interesses são opostos: o vencedor quer apropriar-se de uma versão da História e os vencidos querem construir uma outra memória, mas neste caso todos queriam esquecer o que tinha acontecido – não bastava que o lugar deixasse de existir; era necessário que nem sequer tivesse tido desejo de nascer. Foi esse apagamento, foi essa tentativa de apagar um lugar da História, que me fascinou.
Que lugar exato é esse e como o encontrou?
Acho que o lugar específico já não existe. Madziwa existia um pouco por força de se construir ali um posto militar, mas eu estive um pouco mais a sul do território. E soube do incidente quase por acaso. Estava a vadiar pela internet e de repente li um artigo sobre um ataque alemão ao posto militar português em agosto de 1914, um episódio pouco conhecido da História e que envolveu a morte de um sargento português e de onze sipaios africanos. Curiosamente, o artigo estava assinado pelo meu irmão mais velho. Não sendo historiador, é um homem que lê muito e que se interessa pela história não conhecida de Moçambique. Liguei-lhe e ele indicou-me as fontes históricas. A memória da Primeira Guerra é algo que Portugal esqueceu durante muito tempo, apesar dos milhares de mortos. Só recentemente se começou a falar mais sobre o tema e foi até lançado o livro "A guerra que Portugal quis esquecer – o desastre do exército português em Moçambique na Primeira Guerra Mundial". Essa memória não é vivida em Moçambique, não é vivida em Portugal, e não sei se os alemães fazem grande questão de pensar sobre o assunto.
Ainda antes, entre 1905 e 1907, houve uma insurreição popular conhecida como a Revolta dos Maji-Maji, um protesto contra a cultura forçada do algodão, e a resposta das autoridades alemãs resultou num dos mais graves massacres da história de África – entre 200 mil e 300 mil camponeses foram assassinados, refere no seu livro.
Havia ali várias guerras, tanto entre os próprios europeus como entre europeus e africanos, com os africanos a tentar resistir à imposição de um modo de vida que não era exatamente a seu favor. A sublevação dos Maji-Maji, encabeçada por um líder espiritual chamado Bokero, também me serviu de inspiração para este livro. O segundo evento foi o tal assalto ao posto militar, um episódio que todos queriam apagar da memória. Portugal mantinha numa posição de neutralidade entre as potências em conflito e quis esquecer o incidente por causa disso; se o evento fosse conhecido na metrópole, a opinião pública iria certamente tomar posição e exigir uma resposta. Sabe-se que o posto foi atacado por um grupo de alemães, mas ninguém percebia exatamente o que tinha acontecido, e isso deu-me espaço para criar. Senti-me à vontade para inventar. Ao partir deste episódio, percebi que não queria relatar um episódio; interessava-me sobretudo a licença que esse incidente me dava para entrar na chamada grande História. A gente puxa por uma ponta do novelo e esse novelo vai-nos transportando para outros mundos e para várias possibilidades de História. O que é mais difícil na escrita é deixar de escrever, é apagar. O que é mais difícil e mais importante é justamente saber o que se tem de apagar.
No fundo, este é um livro sobre vários apagamentos.
Sim, mas pelo olhar daqueles que normalmente não estão presentes na História – os próprios africanos que viviam naquela comunidade: como é que testemunharam e de que maneira deixaram os seus registos na oralidade? Este é um livro que valoriza muito a fala direta, até mesmo graficamente – as páginas são muito fragmentadas para dar lugar à fala dos que também querem contar a História. Todos querem contar a História ao mesmo nível, como se fosse quase uma conversa. Então, o livro é um apelo a essa conversa e a um diálogo, mesmo que seja contraditório – e quanto mais contraditório melhor. Encontram-se aqui vários registos, várias vozes, vários provérbios e formas de escrita – e os desenhos que aparecem, muitos deles feitos durante rituais de iniciação, não são só decorativos, são também uma forma de escrita, transmitem qualquer coisa, falam.
Sei que também foi inspirado por um padre cristão, que de certa forma está no livro. Um homem que costumava dizer: eu não quero só falar a língua do outro, quero ser o outro. Quem era este padre?
O padre do livro é um falso padre. Aquele que me inspirou era um padre verdadeiro, um padre cristão no sentido mais puro e mais nobre do termo. Chamava-se Giuseppe Frizzi e era missionário da Consolata. Apareceu naquela região do Niassa há mais de 50 anos e foi quase transitando de identidade – já não era um italiano, nem um europeu, ou também era um italiano e um europeu, e era igualmente um africano, um macua. Dizia: "não quero apenas falar a língua macua, quero ser um macua. Eu não quero só falar a língua do outro, quero ser o outro". Era muito provocador, subvertia a atitude e os rituais da sua igreja e era muito ecuménico. Frequentava as mesquitas e introduzia nas suas preces os rituais africanos da invocação dos antepassados. A sua igreja era uma igreja sem parede. Tem uma obra imensa, muito bonita, publicou livros sobre a chamada biosofia, a sabedoria da própria vida. Era antropólogo e trabalhava com pessoas da comunidade às quais chamava "os meus companheiros antropólogos", gente que não sabia ler nem escrever, mas que trabalhava com ele ao mesmo nível. Também criou um instituto numa pequenina aldeia. A história deste homem fascinou-me e entrei em contacto com ele...
Chegaram a encontrar-se?
Trocámos emails para nos encontrarmos. A dada altura, ele ficou de apanhar um avião em Lichinga, capital do Niassa, para ir a Maputo. No dia seguinte fui ter ao hotel onde ele estaria, mas, ao chegar, disseram-me que o padre Giuseppe tinha morrido a caminho do aeroporto… Ficou-me ali uma coisa mesmo muito intensa, como se fosse um laço por terminar, algo realmente forte. E de imediato pensei: "Eu tenho de ir dar um abraço a este homem, mesmo que ele não esteja lá. Eu tenho de ir conhecer os sítios por onde andou". E lá fui, com um grupo de gente, para perceber se é possível fazer um documentário sobre a vida deste homem, um homem que era mesmo um santo… Quando a guerra civil começou, foram mortos vários padres pela guerrilha da Renamo e a Consolata quis retirar todos os párocos da região, ao que ele respondeu: "Vocês não percebem o que estou aqui a fazer nem quem sou. Quando as pessoas daqui saírem, eu saio com elas; enquanto ficarem, fico com elas". E por lá ficou, dormia nas palhotas, nunca dormia num colchão, usava os medicamentos que todos usavam, os tradicionais, andava de bicicleta e nunca de carro, vivia como se fosse da terra. Era realmente uma pessoa de se tirar o chapéu.
"A Cegueira do Rio" dá voz a todos, sobretudo aos que costumam ter menos voz, num mundo em que há vários apagamentos, incluindo o da escrita – a agrafia converte-se numa epidemia planetária e, de repente, o conhecimento dos chamados "indígenas" passa a ser a única sabedoria. Há aqui uma inversão da hierarquia?
A escrita aparece aqui como um lugar de poder: como se aqueles que escrevem estivessem num escalão "mais autorizado" para afirmarem o seu poder civilizatório e converter os outros, porque a "verdade" é aquilo que está escrito. Por isso é que na introdução eu escrevo: tudo o que se relata neste livro tornou-se verdadeiro a partir do momento em que foi escrito. Como se o critério fosse esse: a transição daquilo que é oral, que é a palavra, naquilo que é a escrita, que é a grafia. Trata-se de uma metáfora, mas não é assim tanto só uma metáfora. Por exemplo, Vasco da Gama fez a sua viagem sozinho até a um certo ponto em Moçambique, mas não chegaria à Índia se não tivesse sido guiado por um piloto árabe, um homem que conhecia outras artes de navegação, que conhecia o oceano Índico através das estrelas, dos ventos e das monções, e que utilizava também outras técnicas de apoio. Esta colaboração na viagem de Vasco da Gama nem sempre é lembrada, ou é apagada. A História é feita de esquecimentos provocados.
Há nos seus livros uma tentativa de reconstruir a História, de alguma maneira?
São sobretudo metáforas – assim é neste livro. E eu também não quero que se inverta uma relação de poder dominador e dominado, sou muito contra esse falso direito à vingança. Não é a minha ideia. Mas, na realidade, a inversão da hierarquia poderia ter acontecido. Sabemos que grande parte dos soldados portugueses que participaram nas campanhas de África eram analfabetos, o analfabetismo abrangia talvez a maior parte da população portuguesa. Então, não seria tão improvável assim que o militar do livro, o sargento que depois se descobre que nem sequer era sargento, tivesse de aprender a ler e a escrever com um sipaio que, por um acaso, era um dos poucos africanos que sabia ler e escrever. Isso, que é uma metáfora geral para o mundo, acontecia naquele micromundo. Eu quis que ali, em Madziwa, estivesse a Humanidade inteira.

Existe a tendência para a criação de uma verdade única?
Há a tendência para uma verdade que tem sido quase sempre centrada na Europa. Ainda hoje é assim, agora de uma maneira mais disfarçada, porque há uma espécie de apropriação, feita em conluio com os próprios africanos, que olham para si próprios um bocadinho com o espelho que a Europa lhes entregou. Isso reflete-se, por exemplo, numa espécie de obrigatoriedade de construir as nações, os Estados e os conceitos de identidade racial de uma maneira similar à dos europeus. Nem sempre foi assim, houve momentos em que a relação da Europa com África era quase de respeito recíproco – há estados e reinos africanos que foram simplesmente visitados, não foram ocupados.
Penso que existe hoje uma certa condescendência quando se fala de África, assim como da Austrália ou da Ásia. Diz-se: ah, eles têm as suas maneiras, que são muito engraçadas e exóticas. Folcloriza-se esse saber como se fosse um objeto étnico ou algo assim, e não se olha para tal como uma sabedoria em relação à qual devemos estar abertos. Se eu disser que o rio pode ser nuvem, não estou muito longe daquilo que é a conceção europeia do ciclo da água. A diferença é que o rio que África escolhe como entidade é uma entidade viva, que fala comigo e que eu posso escutar. Se, na Europa, eu escrever um poema em que o rio aparece nessa condição, já estarei autorizado a fazê-lo.
A sua escrita acaba por ser uma forma de resistência contra o esquecimento?
Sim, é uma tentativa de nos lembrar que a gente está a esquecer e de que há uma intenção de apagamento, que é permanente e acontece todo o lado. Mas também é um convite: se vamos esquecer, ao menos esqueçamos juntos. A construção de um passado comum ajuda-nos a encontrar um presente partilhado por todos. A minha proposta, desde o primeiro livro, é que a palavra sirva de ponte entre as pessoas, para que se encontre aquilo que parece que só mora do outro lado; para que o que mora do outro lado se encontre dentro de nós. Porque nós nunca somos tão diferentes assim. A literatura tem a função de nos fazer perceber que somos plurais e que o mundo inteiro existe dentro de cada um de nós.
À luz da História, como avalia o que se está a acontecer em Moçambique?
Não esperava que isto pudesse acontecer, mas é verdade que havia já uma frustração, um sentimento de desapontamento, sobretudo nos jovens urbanos, em relação à permanência de um poder e de uma forma de governação que tem já 50 anos, que nasceu com a independência e que ficou assim; que nasceu de uma maneira revolucionária e popular e que depois se foi transformando numa outra coisa, numa elite que é muito predadora e muito desatenta ao outro e ao sofrimento dos outros. Essa raiva contida estava à espera que a tampa saltasse. Há um acumular de tensões que, quando se expressa, fá-lo sempre de maneira explosiva. E se há alguém que manipula… Isto poderia ser resolvido se não existisse a manipulação de alguém que quer tirar proveito em nome próprio e tem uma pressa enorme em chegar ao poder. Mas não sei o que se irá passar. Daqui a uma semana, quando esta entrevista for publicada, espero ainda ter país, porque agora está tudo em suspenso; ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Vivi 16 anos de guerra, não quero viver mais. Mas, de alguma forma, esta é uma guerra já declarada. Há todo um clima para um golpe. Se não houver um golpe, já é muito bom. É uma angústia.
O homicídio de Elvino Dias, advogado do candidato presidencial Venâncio Mondlane, e Paulo Guambe, mandatário do Podemos, é um ponto de viragem na história de Moçambique?
Sem dúvida, porque quem fez isso sabia que iria provocar a situação que se gerou. O autor ou os autores queriam que tudo resvalasse para o caos e se perdesse o controlo, tanto do lado da oposição, como do lado do governo. A situação fugiu completamente ao controlo e o poder está na rua… Mas também há uma espécie de má onda no mundo, uma onda populista, uma onda de alguém que aparece e diz que é um messias que vai salvar a pátria.

Em Moçambique, o "messias" é Venâncio Mondlane?
Tenho medo de falar em nomes, estamos numa situação em que se eu disser qualquer coisa aqui... Já me aconteceu em Portugal dizer algo e no dia seguinte ter ameaças, contra mim e contra a minha família, então tenho medo de falar, digo-lhe com franqueza. Não falando em nomes – também nunca falei em nomes na minha vida e não me interessa atacar pessoas –, interessa-me perceber fenómenos e tendências. E existe essa tendência do milagreiro, de alguém que aparece sozinho e, quanto menos ligação tiver com um partido, melhor, veja-se o caso do Bolsonaro. Nos Estados Unidos, vamos ter agora as eleições… Não sabemos quem vai mandar neste mundo amanhã e o que pode acontecer. Então, a incerteza não é uma coisa exclusiva de Moçambique. E há sempre quem tire partido deste enorme grau de fluidez e de incerteza.
A política em Maputo tem sido a continuação da guerra por outros meios?
Não, até acho que em Moçambique ocorreu algo que nos deve orgulhar. Depois de 16 anos de guerra — e da polarização extrema que nos autorizava a ver o outro como alguém que estávamos legitimados a matar —, chegámos a uma situação em que duas forças, a Frelimo e a Renamo, se sentaram no mesmo Parlamento a discutir politicamente aquilo que antes discutiam aos tiros. Temos sempre a tendência de pensar que, quando há um acordo, alguém comprou alguém, e que nada se negoceia a não ser com base no dinheiro. Pode ser que isso tenha alguma verdade, mas, quando duas partes se sentam numa mesa de negociações, têm de ceder reciprocamente. Por isso, acho que é uma visão simplista e redutora pensar que há sempre alguém que foi comprado. Claro, demorou muitos anos até que a Renamo entregasse todas as armas e os seus combatentes fossem reintegrados.
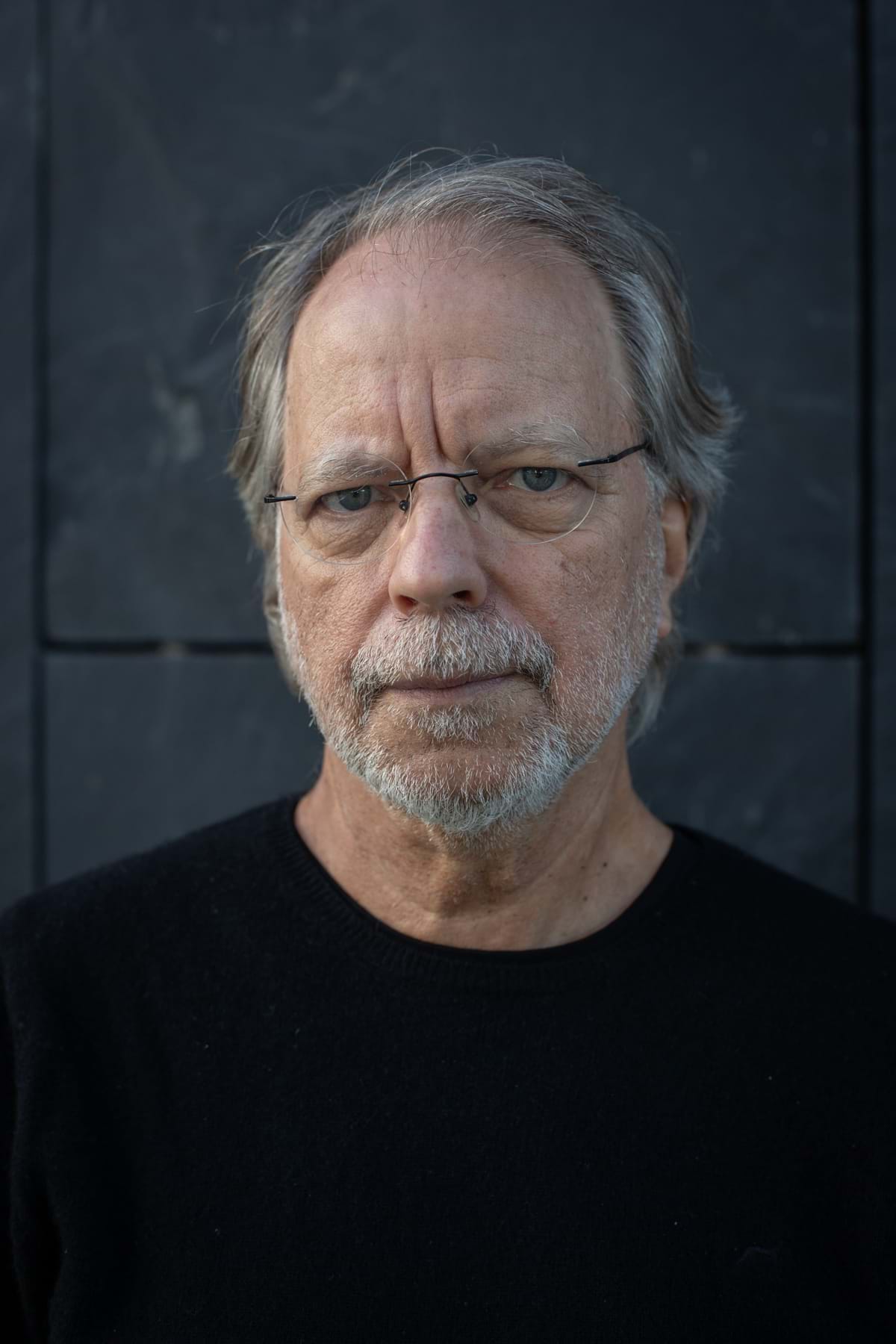
Qual a sua leitura dessa reintegração?
Há também uma história muito curiosa e única: a forma como os soldados, que cometeram crimes, de um lado e do outro, foram depois reabsorvidos nas suas aldeias através de rituais de purificação. Não havia tanto uma ideia de penalização. O dirigente do Podemos, Albino Forquilha, costuma até contar a sua história: foi raptado pela Renamo, obrigaram-no a cometer crimes e a matar os seus próprios colegas de escola; ele era um menino e passou por um trauma que, provavelmente, nunca mais sai de dentro de nós, que é matar. Voltou à aldeia e foi recebido pelos seus pais e pelos pais dos meninos que matou. De norte a sul de Moçambique, este processo de integração e absorção foi feito com base no pressuposto de que, "na altura, quando fizeste isto, não eras tu. Tu não eras tu, alguém estava ocupando o teu lugar. Então, é preciso identificar esse espírito, que tomou posse de ti, e isolá-lo, fazendo com que vá embora". Podemos dizer que este processo foi uma forma de desresponsabilização e que deveria haver uma pena, mas, se em vez disto, tivessem posto o homem na prisão durante 10 ou 12 anos, ele sairia de lá uma pessoa melhor? Não sei. Se funciona? Acho melhor deixar a questão no ar.
Sente-se hoje, de alguma forma, distante do Mia Couto que na juventude se juntou à Frelimo e que era politicamente muito ativo? Disse numa entrevista ao Público que "o Mia Couto dos meus 20 anos pensaria que estou um bocado aburguesado". Está?
É verdade, eu penso isso. (risos) Estou mais velho, claro, mas a minha perspetiva na época era muito simplista; tinha uma visão muito redutora, dos "bons e os maus". Achava que a burguesia era toda má e que os proletários eram todos bons e puros. Fui da Frelimo, sim, e mudei a minha vida toda por causa dessa entrega política. Deixei o curso de Medicina, porque a Frelimo dizia que aquele não era o momento de estudar, mas sim de construir o país. Então abdiquei de Medicina, mas sem nenhum sacrifício, porque tinha uma crença, a crença de que era possível mudar o mundo, a crença de que bastava fazer algumas coisas para mudar o regime político, e que assim o mundo mudaria também.
Descobriu que não era assim?
Felizmente não é assim tão fácil, porque a Humanidade é muito mais complexa; é feita de tantas coisas que a gente desconhece.
É hoje mais difícil ter causas?
Acho que sim, estamos todos um bocadinho perdidos. Na altura, também estávamos, mas tínhamos emoções muito profundas e vincadas. Agora as pessoas estão mais perdidas e são mais manipuláveis. Naquele tempo, para realizar trabalho político e para preparar um jornal, tínhamos de fazer trabalho de campo, de reportagem, de confirmação de factos. Agora tornou-se tão fácil mentir que há uma atitude de cinismo, uma certa desistência, e a ideia de que a política não vale a pena porque está entregue a más mãos... Há menos território para as crenças. Mas depois há um outro território, o da descrença, e essa descrença é também uma crença. E é um convite a permitir que alguém venha pôr isto "em ordem".
Sente-se desesperançado?
Não, absolutamente. A visão pessimista de que o mundo que está a acabar é um luxo que não podemos ter. Sou muito otimista. Mesmo como biólogo, como cientista, não gosto do tom de fim de mundo... E não é uma esperança vã. O mundo é feito de pequenas vitórias. Nos meus 20 anos, a minha ideia de vitória era a vitória total – achava que, depois dessa vitória, o mundo mudaria de repente. Agora penso que, de alguma forma, até estamos mais próximos da verdade, no sentido em que as vitórias são sempre pequeninas, são pequeninas frestas que se abrem lá no muro. Essas vitórias é que são verdadeiras. Isso é visível até na área do ambiente: há várias espécies que agora saíram da zona vermelha, há muitos habitats que estão em proteção e reabilitação, há coisas boas a acontecer.
Continua a exercer a profissão de biólogo?
Sim, todos os dias de manhã. Sou um homem sério. (risos) Já não vou tanto ao campo, porque ir ao campo em Moçambique nem sempre é fácil por questões logísticas – por vezes é necessário dormir numa tenda ou andar a pé muito tempo. Faço menos isso agora, já não tenho essa força, mas, sempre que posso, eu vou. E é aí onde gosto de estar. Até porque as histórias são quase sempre colhidas nesse contacto com gente mais rural, em lugares onde se guarda mais esse outro mundo, que também existe na cidade, mas que está um pouco diluído naquilo que é uma certa vergonha de ser também essa outra pessoa.