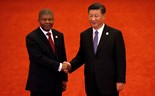Notícia
Jorge Silva Melo: "Eles obrigam-me a dançar"
Recordamos aqui uma entrevista de Jorge Silva Melo ao Negócios em 2015. O encenador e ator morreu esta segunda-feira, 14 de março.
A Lisboa do Chiado é um jardinzinho onde nós estamos a fazer de figurantes. De repente, apareceu uma outra cidade e eu não sei se gosto nem sei se vou ter tempo para me habituar a ela, diz o encenador e cineasta Jorge Silva Melo, sentado na velha Bénard.Estudou na Faculdade de Letras em Lisboa, foi para o Reino Unido no auge dos movimentos hippies. Em Portugal, havia a ditadura, a tropa, a guerra de África. Mas o corpo dele era um corpo português. Ele que, em novinho, dizia: "Quero ser velho". Voltou, queria tentar construir, no País, uma outra coisa, diferente, menos abandonada. Fundou o Teatro da Cornucópia, com Luís Miguel Cintra, andou por aí, muito em Paris. Cansou-se da "vida provisória" e, em 1995, criou a companhia Artistas Unidos. Hoje, o corpo está mais liberto, mais dançante ao ritmo dos actores. "Eles obrigam-me a dançar". É dele a encenação da peça "Doce Pássaro da Juventude", de Tennessee Williams, em cena no São Luiz até 26 de Abril. Um texto que fala do tempo que passa.
Depois de "Gata em Telhado de Zinco Quente", escolheu "Doce Pássaro da Juventude", peças de Tennessee Williams. E seguirá com "A Noite da Iguana". Porquê?
A minha vontade é trabalhar com actores que tenho visto crescer e dar-lhes os grandes papéis do repertório. Estava eu a ensaiar, há cerca de dois anos e meio, uma peça com o Rúben Gomes e a pensar: mas que papéis posso eu dar a este rapaz que é tão talentoso? E lembrei-me do "Doce Pássaro da Juventude", do Tennessee Williams. Mas, antes, pensei: o Rúben também está na idade de fazer o Brick Pollitt, da "Gata em Telhado de Zinco Quente". A partir daí, nasceu a ideia de fazer um ciclo com três peças do Tennessee Williams. É quase sempre a partir dos actores que tenho perto de mim que eu começo a pensar nas peças que vou fazer. Por outro lado, tenho vontade de dar ao palco o que o cinema, no princípio dos anos 60 do século XX, tão maravilhosamente transformou. As peças do Williams foram adaptadas em 59, 60, 62, com filmes maravilhosos, mas escondiam muitos dos temas que estão nas peças. Por exemplo, na adaptação da "Gata", quase não se fala de homossexualidade, que é um dos temas principais. Ou, então, os filmes acabam bem quando as peças não acabam bem, como é o caso do "Doce Pássaro".
Uma peça que fala do tempo que passa.
Sim. O rapaz, Chance Wayne, é um gigolô chantagista, que ambiciona sair da terrinha onde nasceu para conquistar o mundo. Ele foi muito bonito, mas já lhe começa a cair o cabelo. Tem 29 anos e queixa-se de que o pássaro da juventude já voou. A mulher da peça, Alexandra Del Lago, foi uma actriz famosa. Ela faz um regresso ao cinema, suspeita que lhe correu mal e que o público se riu da velhice dela. Não é bem assim. Afinal, o filme foi um êxito. Mas ela tem medo e foge. É o assunto Tennessee Williams. A sua peça anterior, "A Descida de Orfeu", tinha sido um fracasso na Broadway, ele teve imenso medo e fugiu. Há sempre este medo de não ser amado, de não ser reconhecido e do tempo a passar. Do tempo a passar e não mais voltar atrás.
"Eu não vos peço piedade, só peço a vossa compreensão – não, nem isso. Apenas que me reconheçam a mim dentro de vós próprios, e ao inimigo, o tempo, em todos nós", diz Chance Wayne. O tempo é o inimigo em todos nós?
É. Para estas personagens, do Tennessee Williams, o tempo só vai destruir a beleza, a juventude, a graça. E este homem, Chance, já está a ver as hipóteses a reduzirem-se. Ela, Alexandra Del Lago, já ultrapassou as hipóteses. Ainda tem uma ilusão final, mas o doce pássaro já voou. Neste final, em que o Chance se volta para o público e diz isso mesmo – "eu não vos peço piedade, só compreensão…" –, Tennessee Williams partilha um segredo connosco, um bocadinho como o (Charles) Baudelaire. O Baudelaire dizia, na introdução de "As Flores do Mal": "Hipócrita leitor, meu semelhante, meu irmão". E o que o Williams nos pede é que nós sejamos irmãos de um rapaz que é chantagista. Ele quer que nós sintamos que somos ele. Mas também que somos ela, Alexandra Del Lago, a manipuladora, a que compra o serviço dos outros, a egoísta, a que abandona quem for preciso para subir na vida. Olhem para nós que somos vocês. Daí o segredo que existe entre o Tennessee Williams e os seus espectadores. Um segredo que ultrapassa a leitura. O espectador é convidado a algo muito intenso e que é da ordem do inconfessado: isto falou de mim.
E é isso que o fascina, esse segredo.
O palco, para Tennessee Williams, é um espelho dos nossos crimes. Hoje, o que sentimos mais na peça é o inexorável avançar do tempo e a forma como isso nos corrói, como isso nos estraga, como nos intimida. E vemos também o medo. Perguntam ao rapaz: "És capaz de representar?" E ele diz: "Tenho medo". É raro ouvir-se num palco uma personagem dizer: "Tenho medo". E nós temos. E é a isso que Tennessee Williams nos convida. Nós somos aquele rapaz que tem medo.
Mas o medo é algo que nunca assumimos muito bem.
Nunca assumimos. Por isso é que é o inconfessado, por isso é que é o segredo. Publicamente, nunca o dizemos. Estamos sempre a dizer que somos capazes. Para sobreviver na vida, para vencer o doce pássaro que se vai embora. Temos de nos convencer a nós próprios que vamos ser capazes. Assumir que somos impotentes, como no caso da peça, é sempre dramático. E depois há toda uma constelação de outras personagens que já perderam a vida. A velha, a Tia Nonnie, é uma senhora que ficou para tia, perdeu a vida, não teve amores. A jovem Heavenly, que foi obrigada a fazer um aborto, ficou estéril e, portanto, também vai ficar uma múmia como a sua tia. Ela própria diz: "Os embalsamadores devem ter-me tratado bem, que eu ainda estou bonita". A peça é muito cruel. Fala de pessoas que já perderam toda a esperança. De cadáveres vivos que ainda se agitam. A peça é sobre isto. Sobre perder a vida e ver passar o doce pássaro. É muito comovente.
Sinto que há cada vez menos tempo para se perder. Já não há tempo para a inutilidade. O devaneio, o passear... é algo reservado aos turistas, que já não somos.
E é um alerta, um espicaçar. Enquanto observador de gente, vê muitos "cadáveres vivos"?
Há imensa gente que continua a viver, e ainda bem, mas que já perdeu todas as esperanças e, portanto, arrasta-se num contínuo das mesmas situações, tentando manter um esplendor que existiu ou que nunca existiu mesmo. Deixamos de viver muito cedo. Williams acha que é por volta dos 30 anos que deixamos de viver. Nos anos 60, era realmente aos 30 que as definições da pessoa ficavam para sempre. Fulano tal passava a ser o comerciante e deixava de ter todas as hipóteses de abertura que tinha em jovem. Agora é diferente devido à instabilidade das relações profissionais e familiares da nova civilização, que eu ainda não entendo muito bem como se constrói.
Há sempre novas possibilidades, apesar ou por causa da instabilidade...
Por causa da instabilidade, há sempre uma vaga incerteza sobre tudo, o que também pode ser complicado porque há uma infantilização muito grande do adulto. O adulto é cada vez mais jovem. Aos 60 anos, ainda é um jovem.
Isso é mau?
É estranho. Para mim, que sou um velho, é estranho porque se trata de não aceitar as responsabilidades.
Antes ficávamos velhos cedo demais…
E agora estamos a ficar jovens até demasiado tarde.
A juventude nessa ideia de irresponsabilidade.
Pois. A ideia de disponibilidade. Agora as pessoas não têm emprego até muito tarde e, depois, estão reformadas muito cedo. Têm de activo algo como dois anos de vida, o que, como ideal de humanidade, é muito estranho. Pelo menos para mim, que cresci noutro mundo.
Nesse mundo, foi sempre um "homem velho, se calhar", tem dito.
Sim, eu sempre achei muita graça aos velhos e sempre achei engraçado ser muito responsável, ser conhecedor dos assuntos e ter uma visão um bocadinho distanciada das esperanças. Em novinho, eu dizia: "Quero ser velho". Que era também para poder ser rabugento à vontade e ninguém se chatear com isso. Em novo, não se pode ser rabugento, enquanto, em velho, é desculpada a rabugice. Como eu tomei responsabilidades de direcção de companhia desde muito novo, habituei-me desde cedo a ser responsável pelos destinos dos outros. De certa forma, é por isso que eu agora queria muito que o Rúben Gomes, a Maria João Luís e a Catarina Wallenstein saíssem das minhas mãos tendo feito grandes papéis, complexos, difíceis e exigentes. Isso era uma coisa que eu queria deixar. Quero que os actores, nos quais eu confio, possam dizer: eu fiz.

Assumiu, desde sempre, uma grande responsabilidade, lá está, pelos destinos dos outros. Terá sido sempre um "homem sério". Há uns anos, numa entrevista a Anabela Mota Ribeiro, disse: "Nunca consegui dançar. Nunca consegui embebedar-me sequer, por muito álcool que beba. Existe um controlo racional que me deixa muito pouco entregar-me".
É verdade. Tenho uma grande consciência das responsabilidades desde muito novo. Abandono-me muito pouco, entrego-me muito pouco, por exemplo, ao ritmo dos outros. Não sei obedecer a um ritmo que venha de fora. Sei organizar bem o trabalho dos outros, não sou autoritário, mas sou muito pouco dançante. Se tenho pena? Tenho.
Ao mesmo tempo que vivia a libertação de costumes do Maio de 68, sabia que vivia em Portugal, disse ao i. Essa sua "velhice" deve-se ao facto de ter nascido neste país nos anos 40, em 48?
Sim, eu vivi em Inglaterra em 69, 70, 71, no auge dos movimentos hippies, do Woodstock, mas, em Portugal, eu tinha a ditadura, a tropa, a guerra de África. Eu sabia que não me podia entregar aos prazeres individuais ou às descobertas pessoais, eu sabia ou quis estar preparado para poder resistir e não para ser apanhado com as calças na mão, bêbedo ou drogado, frágil. A ideia de me abandonar é uma ideia que não me seduz nada. A minha vida em Londres, com os meus amigos, íntimos, que se drogavam, que iam aos concertos dos Pink Floyd, e eu também fui…, mas eles estavam numa outra visão do mundo, a do prazer pessoal e da libertação individual. Eu queria estar preparado e recolher todas as informações para voltar. E eu queria voltar. Queria tentar, em Portugal, construir uma outra coisa, diferente, mais racional, mais humana, menos abandonada.
Ainda sente necessidade de "educar" Portugal? Em várias entrevistas, fala da "culpa e a pátria", do "complexo do estrangeirado" que quer "educar" o povo.
Isso foi sempre assim em Portugal. Todas as pessoas que estiveram naquilo a que chamamos "lá fora" achavam que "lá fora" se vivia melhor ou que se sabia viver melhor do que "cá dentro". Havia imensas coisas com as quais nos cruzávamos e que não existiam por cá. E não tem a ver com marcas ou lojas em "franchising", mas sim com educação e acesso à cultura, por exemplo. Os anos do pós-guerra foram de tal forma vivificantes em Inglaterra, em Itália e em França que nos fazia impressão não ter por cá essas possibilidades. Claro que isso já passou. Conseguimos, em parte, recuperar desse atraso. Em parte, não conseguimos. É algo endémico. Mas em toda a cultura portuguesa, desde o século XVI até agora, houve sempre a ideia de que se vai "lá fora" buscar umas coisas.
"A minha pátria é a minha culpa".
Sentimos sempre isso, sentimos sempre que isto podia ter sido melhor, que havia condições físicas e geográficas e humanas agradáveis e que não as soubemos pôr a render, que não as conseguimos pôr a florescer, e isto também tem a ver com o doce pássaro da juventude. Vimos passar o pássaro e não soubemos pô-lo a fazer ovos, vimos passar imensas hipóteses que perdemos. Por exemplo? Porque é que as salas de teatro em Lisboa estão em ruínas? No 25 de Abril, em 1974, as salas pertenciam a um comércio, que estava obsoleto e em decadência, e as novas companhias da altura – a Comuna, a Cornucópia, a Barraca – não queriam tocar nesse monopólio que era do Vasco Morgado. Nós achávamos que tal seria conspurcar-nos. Então, as salas começaram a ficar vazias e ruíram. O Variedades não existe, o Capitólio vai ruir, o ABC vai ser destruído…. Nós vimos passar a hipótese de uma cidade com dez ou doze teatros e não quisemos saber. Vimos passar, à margem, o doce pássaro da juventude.
Eu não gosto de desconfiar dos partidos, fomos tão proibidos de os ter, mas não vejo projecto algum a nascer dos partidos existentes.
"Lisboa é o sítio da minha culpa", disse numa entrevista.
Isso sente-se imenso. Por exemplo, eu já não me sinto bem aqui no Chiado. Embora esteja agradável e bonito, eu já não reconheço nada. Eu não sei o que é que se vende em todas estas lojas. Agora deitaram abaixo o meu barbeiro e eu não sei onde é que hei-de ir cortar o cabelo. Sinto que o Chiado está a mudar tanto que me pergunto se ainda me reconheço aqui ou mesmo na sociedade que isto promete. Promete uma sociedade de bem-estar e conforto que eu não encontro no resto de Lisboa, digamos, a norte do Saldanha. A Lisboa que vai do Norte do Saldanha até à Amadora ou até Loures é uma Lisboa diferente desta, que é turística. Que é um jardinzinho onde nós estamos a fazer de figurantes. É natural que as coisas mudem, mas a mudança foi muito brutal, foi muito rápida, foi num instante. De repente, apareceu uma outra cidade e eu não sei se gosto nem sei se vou ter tempo para me habituar a ela.
Fala no desaparecimento dos lugares de convívio, no desaparecimento da arte do convívio.
Eu tive a sorte de, desde muito novo, conviver com gente de idades e culturas muito diferentes. Pessoas que tinham muita atenção aos mais novos. E eu tento fazer isso com gente mais nova do que eu, mas já não é a mesma coisa. Se antes era por puro devaneio, por curiosidade, agora há sempre uma relação laboral que está de permeio. Sinto que há cada vez menos tempo para se perder. Eu gostava de perder tempo, e conseguia perder tempo, com pessoas muito engraçadas. Que não estavam ali só a rentabilizar o seu horário. Agora sinto isso, sinto que as pessoas estão preocupadas em fazer currículo e em fazer render o pouco tempo que têm na vida quotidiana.
 Já não há tempo…
Já não há tempo…
… para nada. Já não há tempo para a inutilidade. A inutilidade é boa…, o devaneio, o passear. É só reservado aos turistas, que já não somos.
Mas sentimo-nos culpados se formos inúteis e isso é terrível.
Mas há um prazer no ócio, e isso é bom, só o ócio nos pode libertar, quando conseguimos. Não o negócio, mas o ócio (risos). É bom descobrirmos coisas que não sabíamos que existiam, sem ser: vou ler o James Joyce porque é muito útil para mim. Descobrir é andar na rua, é aquilo a que se chama perder tempo, que é uma coisa que não existe.
O teatro ainda é um lugar de convívio nesta – a expressão é sua – "não-cidade"?
O teatro tem uma coisa extraordinária: é um local onde as pessoas vão para ver outras pessoas vivas. Hoje em dia, parte das salas grandes enchem porque as pessoas sentem necessidade de sair de casa para se sentirem vivas enquanto vêem outras pessoas vivas à sua frente, e isso é uma função muito importante numa sociedade tão mediatizada. O teatro, em todo o mundo, em toda a Europa, está a ter muita adesão por causa disso mesmo. Na nossa vida quotidiana, já quase que não vemos ninguém vivo. Já quase que só vemos ecrãs e telefones. Hoje estamos a ver o público a acorrer mais aos grandes teatros do que aos pequenos. Ninguém tem vontade de sair de casa para ir a uma sala com 50 ou 70 lugares. Essa noite parece tristonha.
É algo recente, não? Esse regresso aos grandes espaços?
É engraçado sentir essa alteração. Não apetece sair para estar com quatro gatos-pingados. Em Madrid, está a acontecer a mesma coisa. Madrid teve uma cena alternativa muito forte há cerca de dez anos. Agora está tudo a ir aos grandes espectáculos nacionais. E são as pessoas de 40 anos que constituem a base do público destes espectáculos. É o casal.
Tinha a ideia de que o público que ia menos ao teatro era exactamente esse.
Em Lisboa, isso é verdade. Nos nossos teatros, no Teatro da Politécnica, ou assim, não temos espectadores de 40 anos, estão todos em casa com os filhos. Já na província, só temos gente dessa idade. Os jovens estão nas universidades, fora da terra, os mais velhos estão a tomar conta dos netos. Então, são as pessoas que têm entre 35 e 50 anos, com profissões estáveis e sem precisarem de "baby-sitter", com os avós ali perto, que vão ao teatro. Com a "Gata em Telhado de Zinco Quente", enchemos muitas salas. Em Lisboa, é diferente. Alguém de 40 anos que mora em Carcavelos, se calhar, até vai ver o Tennessee Williams ao São Luiz, mas não irá ao Teatro da Politécnica ver um autor desconhecido. Essa sociologia dos espectadores de teatro é muito engraçada.
Diz que houve muita coisa que lhe aconteceu até aos 25, 26 anos. "E não foi por eu ser novo; foi um momento da história". Em que momento estamos na história?
Não sabemos. Sabemos que aquilo que se anuncia é a desintegração do mundo que eu conheci, do mundo com o qual eu sonhei, do chamado mundo "lá fora". A desintegração do Estado Social, a desintegração das responsabilidades do Estado para com as pessoas, isso tudo é o que se anuncia como estando a acabar. Será que é verdade? Haverá possibilidade de fazer o recuo em relação a isso? Creio que estes dois, três anos que aí vêm são muito decisivos.
E isso assusta-o?
Fico assustadíssimo e já estou a viver esse susto. A minha irmã, que é bastante mais velha do que eu, já está a ter uma velhice difícil. Economicamente, com a reforma cada vez mais cortada, e com custos maiores. Faltam respostas do Estado. Não pensava que fosse assim que iríamos envelhecer. Ou se caminha nesta mesma direcção, até a um abismo ou a uma guerra, ou conseguimos fazer uma inversão de marcha. Mas não estou a ver como é possível inverter esta marcha que vai na direcção de um suicídio colectivo europeu. De certa maneira, eu fui acreditando no sonho europeu e coloquei-me à esquerda da social-democracia…
Fez parte do MES (Movimento Esquerda Socialista).
Exactamente, juntei-me a essa esquerda, mas acreditando que a social-democracia iria adoptar uma série de medidas, e agora vejo isso a esboroar-se de maneira catastrófica. A implosão do PASOK na Grécia é uma coisa trágica. O PSOE, em Espanha, é outra coisa trágica. E eu não percebo que sociedade é que está aí a vir, parece uma selva absoluta, porque não será o modelo americano que, com todos os seus horrores, tem tanta coisa tão interessante. Será o quê? África?
Não acredita no sistema partidário tal como está?
Eu não gosto de desconfiar dos partidos, fomos tão proibidos de os ter… Mas toda esta junção entre negócios, partidos, clientelismo… está tudo de tal forma podre que não vejo projecto algum a nascer dos partidos existentes.
Não sei obedecer a um ritmo que venha de fora. Mas estou menos autoritário. Gosto de ouvir a voz secreta dos actores. Já me sinto guiado por eles.
De qualquer forma, parece existir, nas margens, uma cidadania mais activa. Projectos em comunidades, um outro tipo de participação, uma democracia mais participava, talvez.
Há imensas coisas a acontecer de uma maneira muito curiosa. Por exemplo, no teatro. Mas são projectos muitíssimos frágeis. Tão frágeis que me assustam. Projectos de jovens que estão a trabalhar com pouco dinheiro ou mesmo sem dinheiro algum. Daqui a cinco anos, o que é que será deles? Eu vi muita gente desistir de fazer teatro e tenho medo de que estes jovens, que agora têm 20, 25 anos, daqui a pouco não tenham coragem para viver da maneira tão precária como vivem hoje. Que é muito precária mesmo. Depois será o suceder de jovens. Acabam os da geração A, passam a ser os da geração B. Haverá sempre jovens precários, mas com pouca estabilização do desejo fantástico e corajoso que têm.
Está desesperançado?
Faz-me muita impressão. Nunca pensei conseguirmos tantos actores tão bons – é engraçado ver tantos rapazes com tantas qualidades quando, em Portugal, os actores homens foram sempre, na maior parte, muito menos interessantes do que as actrizes mulheres. Agora há muitos entre os 25 e os 40 anos. E isso é um fenómeno novo na sociedade portuguesa porque o corpo salazarista do rapaz era muito mais rígido, mais tropa. E agora já faz surf. Há uma musicalidade nos corpos portugueses, uma musicalidade que não existia. Era como se fosse proibida. Estavam todos de fato, muito esticadinhos, em posição de guarda de rainha. É uma grande mudança que eu nunca pensei que acontecesse. Também nunca pensei que iria haver tantos jovens que, com nada, conseguissem fazer tanto. Mas também nunca pensei que nós não fôssemos capazes de lhes dar resposta. Não somos.

Lá vem a culpa.
Lá vem a culpa. Não estamos a dar-lhes a possibilidade de continuarem. Eu tento o mais possível, mas cada vez mais temos menos meios e menos capacidades económicas e logísticas para resolver esta situação.
Falta, faltou, alguma consciência social no país?
Faltou. "O Estado são eles e nós não temos nada a ver com isso". Ora, nós somos. E exigimos pouco. Quer dizer, exigimos muito quando as coisas estão mal. Quando as coisas estão bem, produzimos pouco para que corra bem. Com muito pouca participação. É algo que tem a ver com a educação no País, que foi sempre uma educação deficitária, uma educação para elites. São muitos anos, séculos, de educação pare elites.
"Acreditava que trabalhar no teatro, no cinema, tinha a ver com participações políticas, mas agora tenho dúvidas em relação a isso", disse numa entrevista ao i. Fazer teatro é fazer política? Já não é?
É, mas é mais uma política interna do que externa. Será que as peças que fazemos têm implicação na vida das pessoas? Cada vez menos. Neste momento, as peças são acontecimentos sociais, que se sucedem – este mês, a peça a ir ver é esta; naquele mês, é aquela – em vez de se criar uma cidadania dramatúrgica. É um acontecimento cultural. Fora de Lisboa, sei que a "Gata" teve um impacto fantástico sobre a população, e isso comoveu-me. Em Lisboa, não sei. Penso que se trata de eventos que seguem uns aos outros. Agora é giro ver este ou dizer mal daquele…
Gosta mais de levar os espectáculos para fora de Lisboa?
Neste momento, gosto muito de estar fora de Lisboa. Há uma reacção mais calorosa dos espectadores, sinto que as pessoas têm necessidade de ver aquele espectáculo enquanto aqui, em Lisboa, há uma espécie de obrigação: "Temos de ir ver isto, senão somos mal pensantes". Não é sempre isso, mas muitas vezes é. E eu gosto muito de ir a um sítio onde sinto que sou necessário. E, por vezes, em Lisboa, sinto que estou só a fazer parte do cortejo de monstruosidades que vai ser mostrado este mês….
Viveu em Paris, Berlim… A certa altura, tinha necessidade…
… de parar um bocadinho com a vida de adolescente. Até aos 45, 46 anos, eu vivia fora de Portugal durante seis meses por ano. Vivia em quartos provisórios, era sempre uma vida provisória. A certa altura, pensei: não posso envelhecer continuando a ser o eterno estudante. Porque era uma vida de estudante, aquela em que eu andava. Pensei voltar para Lisboa e criar estruturas que me permitissem envelhecer e passar – lá está o sentido da culpa – todos os privilégios que tive, na educação e na vida, a pessoas mais novas do que eu. E é essa a razão de ser dos Artistas Unidos.
Fundou a companhia em 1995.
Eu sentia vontade de trabalhar com outras pessoas e formar uma espécie de grupo de salteadores – a ideia de companhia de teatro ou de cinema é a ideia de pessoas que vivem fora da lei dos homens. Tal como os monges nos conventos, nas companhias de teatro vive-se sob leis que nós próprios inventamos, com estes processos, com este repertório, com estes papéis. Vivemos num mundo que é diferente do das outras pessoas, trabalhamos quando elas estão livres. Por exemplo, é muito estranho eu receber convites para ir jantar. Não posso. As pessoas acham que eu sou malcriado (risos). A isso, a essa diferença, eu acho graça. É uma vida, de certa maneira, monástica. Ou uma vida de salteador.
Mas não foi fácil esse seu regresso a Portugal.
Não, não. Quando regressei, tive dois anos e meio de desemprego total, nem sequer um artiguinho para jornal. Nem traduções. Nada. Foram dois anos negros de calmantes. Eu queria passar a outras pessoas aquilo que tinha acumulado como ensinamentos e não conseguia, de todo, criar uma estrutura que me permitisse fazer isso. A pouco e pouco, através da energia de vários actores novos que fui encontrando, consegui retomar uma certa energia e voltar, então, a fazer. Mas foi um lento reassumir de funções. Isso também tem a ver com Lisboa. Os meus colegas tinham-me visto fora de Lisboa – "olha menos um". (A companhia) Os Artistas Unidas, com as imensas dificuldades, tem apostado em co-produções e tem feito o seu caminho. Já estamos a trabalhar na programação de 2017. A minha vontade é, chamando novos actores, trabalhar com muitos dos actuais. No cinema, o John Ford trabalhou quase sempre com os mesmos actores, o (Ingmar) Bergman também. Eu adoro ver os actores a transformarem-se. Isso é uma coisa que me encanta na ideia de companhia. Eu já me sinto guiado por eles.
Na dança. A dançar.
A dançar. Eles obrigam-me a dançar.
Passam 41 anos do 25 de Abril. Sente-se mais solto, apesar de tudo?
Menos autoritário. O meu prazer, com a companhia de teatro, está em, cada vez mais, confiar no que as pessoas me trazem, no que os actores me propõem. Cada vez mais, sou mais guiado por eles. Eu deixo-me levar pelo tom que eu imagino que é lançado por eles. Disso, eu gosto. Gosto de ouvir a voz secreta dos actores.