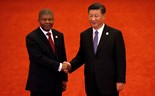Notícia
João Magueijo: Se o Brexit avançar, é uma desgraça total
O físico teórico português, professor no Imperial College, em Londres, está a acompanhar de perto as movimentações políticas no país onde reside há quase 30 anos. João Magueijo, ele próprio um emigrante, lançou um livro sobre a emigração portuguesa em Toronto. “Olifaque” foi escrito em “emigrês”, a língua que a comunidade lusa fala naquela cidade.
Quem começa a ler o seu livro "Olifaque" pensa que o João Magueijo está a gozar com os emigrantes portugueses em Toronto. Mais à frente, percebemos que não é essa a intenção. O que o levou, de facto, a escrever este livro?
Tenho uma empatia muito grande com as pessoas retratadas no livro. Estou precisamente a fazer o oposto de gozar com elas. O objectivo é representá-las, mostrá-las e valorizá-las, face a um conjunto de portugueses que ficaram no "rectângulo". São esses os únicos que eu realmente quero atacar, uma vez que têm desprezado os emigrantes. Têm olhado para eles como portugueses de segunda classe.
Porque é que escreveu em "emigrês"?
Eu queria dar voz a estas pessoas na linguagem delas. Daí a escolha do narrador como um emigrante a falar em "emigrês", que é a língua franca deles. É uma língua muito prática. Permite combinar português com a língua do país. E algumas destas coisas estão documentadas.
Existem trabalhos de investigação sobre esta língua falada pelos emigrantes no Canadá?
Há só um livro do Eduardo Mayone Dias, escrito nos anos 1990, chamado "Falares Emigreses" e, como ele próprio diz, é uma primeira abordagem. Ele fala dos "emigreses" todos. Depois há teses de doutoramento, de mestrado, mas há muito pouca coisa de facto e eu acho que isso é uma vergonha, não ter ambição de documentar a nossa cultura. Isto é a nossa cultura! Se existem cinco milhões de pessoas a falar essa língua…
Usa uma linguagem muito crua no livro. Porquê?
As pessoas usam essa linguagem. Eu quis ser realista.
Mas tinha a intenção de chocar?
Acho que vou chocar, mas a intenção não era essa. Era pôr os emigrantes a falar na primeira pessoa, com a linguagem que usam. Eu recolhi o lado técnico do "emigrês" com muito cuidado. Pode dizer-se: mas não é assim que se escreve literatura. Quero lá saber da literatura! Eu quis ser realista na maneira como a linguagem é usada. O facto de o narrador usar essa linguagem foi uma escolha arriscada. Mas eu decidi assumir esse risco.

Porque é que foi viver para o Canadá, em Setembro de 2005?
Fui como investigador convidado para o Perimeter Institute [centro de pesquisa independente de física teórica], criado pelo fundador da BlackBerry, Mike Lazaridis. No princípio, era uma coisa um bocado utópica, "hippie" até. Não havia gabinetes. Eles compraram um restaurante que tinha falido e durante algum tempo o instituto funcionou nesse espaço. As pessoas passavam o tempo todo a falar umas com as outras. Não havia uma sala de seminários, havia sofás! A única coisa que fizeram foi pôr quadros de escrever por todo o lado, até na casa de banho. Fiquei muito ligado a este instituto desde o princípio e decidi ir para lá um ano, acabei por ficar dois anos. Por mim, teria lá ficado, mas correu mal. Houve uma altura, como acontece com todas as utopias, que aquilo descambou. O centro ainda existe, mas agora é uma coisa completamente convencional. E, para ser uma coisa convencional, fico no Imperial College.
Como é que se envolveu com a comunidade portuguesa? Era já uma intenção sua estudá-la ou, simplesmente, aconteceu?
Tudo aconteceu naturalmente. Fiquei a viver por acaso num bairro de portugueses. Quando cheguei, fui a uma festa na Casa do Alentejo e aquilo foi uma grande confusão. Puseram as pessoas todas na mesma mesa. A certa altura, comecei a falar com quem estava à minha volta. Conheci uma pessoa, duas, quatro, dezasseis, trinta e duas. Às tantas, conhecia toda a gente! São pessoas que foram bem acolhidas e que acolhem bem quem chega de novo. Isso é algo que faz parte do Canadá. O país vive da imigração, e não só a respeita como a valoriza.
O que mais o surpreendeu nestes emigrantes?
A coisa mais impressionante é ver como muitas destas pessoas vieram dar a bom porto. Vêm de situações muito complicadas. Normalmente, emigraram por razões muito piores do que as financeiras. Têm traumas muito graves, dos quais fugiram. No Canadá, conseguiram encontrar um ambiente em que trabalham muito, mas ganham bem e são respeitadas. Não há estigma pelo facto de serem pedreiros ou mulheres a dias.
São assim tão diferentes dos emigrantes portugueses que vivem em Inglaterra?
Em Inglaterra, ganham muito mal. Ganham melhor do que aqui em Portugal, mas vivem muito mal e acabam por ter muito menos espírito de comunidade.
No livro, faz uma crítica severa à diplomacia portuguesa. Diz mesmo que há "cinco milhões de portugueses quase sempre esquecidos ou vilificados pelas nossas elites culturais". A diplomacia não tem sabido valorizar essas pessoas?
Acho muito triste um embaixador de Portugal fazer comentários negativos sobre a nossa emigração [No livro, João Magueijo escreve: Invoco um certo senhor embaixador de Portugal, que uma vez conheci em ocasião oficial, que tanto se carpia pela fraca qualidade dos portugueses radicados no estrangeiro – "Gente do mais baixo que pode haver... uma vergonha!".] O papel de um embaixador é representar as pessoas, não é julgá-las. São portugueses. Ele pode ter a opinião que quiser, mas é de uma arrogância extrema dizer isso publicamente.
Mas houve um embaixador que falou mal dos emigrantes portugueses publicamente?
Disse-mo a mim, numa cerimónia oficial. E eu fui malcriado com ele. Acho que ele merecia. Não vou dizer onde é que isto aconteceu, mas podia ter acontecido com muitos embaixadores. O problema é esse. É triste. Esse é o "gatilho" do livro. Não gostam destas pessoas? Pois eu acho que eles é que são reles e rascas.
"Eles", os diplomatas?
Sim. Os intelectuais portugueses acham-se acima do resto das pessoas. São os melhores da rua. É altura de ridicularizar isso. Este livro é uma reacção contra isso. Que direito têm de julgar a emigração portuguesa? É um complexo, de inferioridade ou de superioridade, mas é um complexo. Há um problema em Portugal em relação aos 5 milhões de portugueses da diáspora.
No livro, afirma que "Portugal tem uma relação esquizofrénica e arrogante com a diáspora". Está a falar das elites ou acha que os portugueses em geral têm essa apreciação negativa dos emigrantes?
O mais grave é a elite. As pessoas em geral têm essa apreciação negativa, mas não é uma coisa muito séria. Acho que as pessoas são capazes de mudar de atitude se olharem para as coisas de outro modo. O bilinguismo do emigrante é uma coisa altamente irritante para o português, mas se as pessoas pensarem um bocado no ridículo que é a forma como falam línguas estrangeiras... Ninguém gosta de ser gozado. A partir desse momento, muda-se a perspectiva. Ao menos, os emigrantes falam línguas estrangeiras de uma maneira que é operacional e que funciona. Ao passo que os portugueses, normalmente, falam inglês como se fosse latim. Quando estive em Cambridge, tive de dar aulas sobre problemas relacionados com buracos negros.... Eu ia com o inglês que toda a gente aprende na escola, que é aquele que não funciona, o inglês da escrita, que em Inglaterra ninguém percebe nada. Lembro-me de uma vez estar a dar aulas e dizer "one elf" em vez de "one half", que significa metade. A forma como eu o disse significa "um duende". Toda a gente se riu. E com razão.
Mas considera que os portugueses não dão valor àqueles que saíram do país e conseguiram construir alguma coisa lá fora?
Há ciúmes, há invejas. Não gostam das casas revestidas a azulejos e daquela cultura toda, mas a maior parte destas pessoas apanhou essa cultura lá fora. Uma amiga minha que trabalha nas limpezas do Imperial College diz que nunca tinha gostado de música pimba até ter ido para Inglaterra. Começou a gostar lá porque aquilo faz parte da identidade portuguesa.

Aconteceu-lhe o mesmo com o fado, não foi?
Com o fado e com a música pimba também. De fado, eu gosto mesmo. Eu era um daqueles intelectuais de esquerda para quem o fado era fascista. (Risos) Hoje dá-me vontade de rir mas, nos anos 1970 e 1980, era verdade. As pessoas pensavam assim. Eu fui encontrar o fado como identidade lá fora. Agora está na moda, e ainda bem, porque merece estar. Realmente, faz parte da nossa identidade cultural. Eu adoro Quim Barreiros. Comecei a gostar no Canadá. (Risos) Não é assim uma coisa muito intelectual, mas é altamente expressivo. A "Separação de Bens", da Ágata… Eu vi mulheres a chorarem e a cantar a música no karaoke. Ela conseguiu uma coisa incrível, que é ir directo ao coração de muita gente. Isso tem de ser respeitado. Posso achar a música foleira, mas deixem o pimba em paz. Tem coisas muito boas, culturalmente valiosas e que deviam ser estudadas.
Diz que foi uma pessoa diferente durante o tempo que viveu no Canadá. O que é que mudou em si?
Tornei-me uma pessoa mais sociável. Tive um grupo de amigos muito próximo no dia-a-dia. Eu tenho amigos, mas estão espalhados pelo mundo inteiro. No Canadá, vivi em comunidade, que era uma coisa que ainda não tinha experimentado. Houve uma resposta emocional àquele ambiente. Há ali um certo carinho, um calor.
Revela no livro que sofreu quando voltou para Londres.
Sofri imenso. Isso teve que ver exactamente com perder aquela comunidade e tentar recriá-la. Mas é impossível recriar uma coisa noutro lugar. E não foi só isso, acho que o Canadá tem um bocado aquele ambiente norte-americano de optimismo. De tentar fazer coisas. Em Inglaterra, "isso não se faz", "é de mau gosto", as pessoas são mais conformistas. Geograficamente é diferente, e económica e financeiramente também o é. Não estou a dizer mal dos emigrantes em Inglaterra. Pelo contrário, gosto muito deles. A maior parte das empregadas de limpeza do Imperial College são portuguesas. Dou-me especialmente bem com duas delas. São grandes amigas minhas. A questão não é essa. É que em Londres as pessoas não têm a possibilidade de expressar aquele "emigresismo" e aquela portugalidade de uma maneira tão óbvia como os emigrantes portugueses têm em Toronto. As pessoas não vivem tão bem em Inglaterra. Não quero estar a criar uma imagem cor-de-rosa do Canadá, mas há uma capacidade para acolher a emigração. O mote de Toronto é "Diversity: Our Strength" [Diversidade: a nossa força]. E, realmente, é verdade.
Porque é que não consegue trabalhar em Portugal?
Houve uma altura em que pensei mesmo voltar. Depois comecei a ver pessoas que voltavam com ideias épicas de mudar tudo e, ao fim de dois anos, faziam parte do sistema. O sistema [científico] em Portugal não funciona. As únicas coisas que começaram a funcionar foram feitas de raiz. Há vários institutos que são famosos e estão a funcionar lindamente, tenho ouvido dizer muito bem deles. As coisas estão a mudar, mas a pessoa começa a ver e não tem nada que ver com as universidades ou com os institutos que já existiam. Foram coisas feitas de raiz e abertas ao mundo. Pessoas que voltaram para instituições que já existiam foram absorvidas pela mediocridade que já lá estava. Era isso que me iria acontecer, porque é impossível mudar as coisas.
Mas o que é que está mal, do seu ponto de vista?
Primeiro, não há uma tradição de investigação científica em Portugal. Não é por as pessoas serem estúpidas, é porque a investigação científica é vista como algo que se faz nas horas vagas. As pessoas têm uma carga horária tão grande, de coisas completamente desnecessárias, de aulas práticas disto e daquilo. Sei de pessoas que começam a dar aulas e deixam de fazer investigação. Não se pode estar a fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo. Eu não seria capaz de fazer investigação assim. Costumo dizer que o meu laboratório são os meus colegas. Eu não faço experiências, mas os meus colegas são experiências intelectuais. "Atira-se" uma coisa a um colega e ele diz que é um disparate por isto e por aquilo. Ou eu digo: tive esta ideia, mas acho que é um disparate. E alguém diz: mas isso é incrível. Esta ressonância com colegas é importante.
Mas essa ressonância não pode existir em Portugal?
Não. Isto vem das tradições, é preciso já existir. Houve uma altura em que, de repente, vários prémios Nobel foram atribuídos a cientistas de Inglaterra que vinham do tempo em que a Margaret Thatcher fez uma razia total aos laboratórios. Ela dizimou completamente a comunidade científica e aquilo floresceu! Havia uma cultura tão grande de ciência que acabou por ser uma coisa positiva. As pessoas ajudavam-se umas às outras e aquilo gerou coisas fantásticas, a ressonância magnética, por exemplo. Foi um momento de adversidade e gerou não sei quantos prémios Nobel. Essa ressonância, essa tradição de as pessoas discutirem, é incrível. A história do ADN... vem dos gajos que iam para o pub, em Cambridge. Basicamente, apanhavam uma grande bebedeira à hora do almoço a discutir. Eu consigo ver esta excentricidade alcoólica britânica gerar coisas.
Chocou-o de alguma maneira esse ambiente?
Eu nunca me dei bem em Portugal. Sempre me achei um bocado rafeiro, mal inserido. Cheguei lá e estava aberto a tudo. Não estava ligado a uma maneira de ser portuguesa. Foi-me difícil entrar naquilo por outras razões. É muito difícil chegar a Inglaterra e ser estrangeiro.Primeiro, pela língua. Dizer "one elf" e coisas dessas. Em Inglaterra, há aquela história dos sotaques. A língua é uma coisa muito importante para eles porque os sotaques têm conotações sociais, de classe social. Ser estrangeiro, ali, é uma coisa complicada. E, depois, foi difícil entrar na Inglaterra socialmente, especialmente em Cambridge, que é um bocado especial. Por outro lado, as excentricidades nunca me fizeram impressão nenhuma. Estava habituado a situações em Portugal em que era expulso e ia parar ao director. Cheguei lá e passava despercebido.
Aqui era um "enfant terrible"?
Sim. Mas lá não sou porque é normal as pessoas serem assim. É claro que não é permitida violência física, mas tudo o que seja violência intelectual, disparates… há uma tolerância muito grande em relação a isso. Gostei muito desse ambiente. Cá, estava habituado a sobressair. Chegar ali e não sobressair, foi óptimo. Dizia o que queria e como me apetecia, sem problemas nenhuns.

Os ingleses já lhe perdoaram o que escreveu sobre eles no livro "Bifes Mal Passados"? Nomeadamente que eram "porcos", "animais violentos" e "bêbados"?
Os meus amigos ingleses fartaram-se de rir. Mas recebi ameaças de morte por e-mail. Eu estava em Itália nessa altura. Se estivesse em Inglaterra, era capaz de ter levado aquilo à polícia. Eram coisas potencialmente sérias.
O livro chegou a ser publicado lá?
Eles queriam traduzir e eu disse que não. Achei que iria ser mal entendido. O livro foi feito para os portugueses. No fundo, é sobre o nosso complexo de inferioridade face aos povos do Norte. Foi publicado em plena crise económica e havia aquela coisa de que nós somos preguiçosos. É um disparate total. Há um problema de produtividade, mas não é por sermos preguiçosos. Nós trabalhamos mais do que a média da OCDE. Isso é um mito criado pelo Norte, de que os povos do Sul são preguiçosos, que não pagam os impostos. As maiores fugas de impostos acontecem em Inglaterra. É mais ou menos legal. Eles queixam-se de que os gregos não pagam impostos, e é verdade em certos casos, não todos. Mas as grandes fugas fiscais, de facto, são das multinacionais... O resto é uma coisa giríssima. A maior parte das casas gregas têm varas de aço a sair do telhado e os moradores deixam ficar aquilo assim. Isto parece uma estupidez, mas a verdade é que, enquanto não tiram as varas, a casa está em construção e, por isso, eles não pagam impostos sobre ela. Eu acho graça porque o conceito de imposto foi inventado pelos gregos. Inventaram os impostos e a evasão aos impostos! (Risos)
Que imagem é que os portugueses têm em Inglaterra neste momento?
Houve uma altura em que os portugueses faziam os trabalhos que os ingleses não queriam fazer. Não há dúvida de que isso mudou nos últimos anos. Estive no hospital há uns tempos e as enfermeiras eram todas portuguesas. O Mourinho também fez imenso pela imagem dos portugueses. Ele tem uma imagem de arrogante, de malcriado, mas é muito querido por eles ao mesmo tempo. Há ali uma boa relação.
O João fez questão de manter um sotaque estrangeiro, precisamente por causa dos sotaques das classes sociais.
Em Inglaterra, a pessoa fala e já se sabe qual a classe a que pertence. É algo muito parecido com o sistema de castas na Índia. O que eu digo nos "Bifes" é que em Inglaterra é pior, porque ao menos as marcas de casta na Índia não se notam a falar ao telefone. Tive o cuidado, desde o princípio, de manter o sotaque estrangeiro.
Mas esse tal sistema de classes não permite a mobilidade social? Isso também afecta o meio académico?
Obviamente não ajuda. Cambridge, agora, tem um cuidado muito grande em aceitar pessoas de várias classes. Acham que, nos dias que correm, parece mal haver discriminação. Mas eles têm exames de admissão completamente racistas e elitistas. Há muitas tentativas de contrariar isto, mas existe uma certa hipocrisia. O Imperial College tem feito um esforço enorme para diversificar o número de pessoas admitidas no seu "staff". São medidas algo artificiais, que não acontecem naturalmente. Os Estados Unidos também têm esse problema, a nível racial, por exemplo, e às vezes essas coisas podem ter o efeito oposto.
Essa questão social que refere pode explicar, de alguma maneira, o Brexit?
Sim, e também explica o Trump. Esta história racial, este ressentimento que há em relação a que tenha de existir um certo número de negros aqui e ali, esta situação, no fundo, é uma reacção de uma certa classe branca. O Brexit também foi isso. Aliás, nota-se que, geograficamente e em termos de idade, quem votou no Brexit foram as pessoas que têm esse perfil. Os mais velhos, os racistas, os xenófobos. O que é engraçado é que são pessoas que vêm de comunidades que não têm estrangeiros. É uma imagem fictícia. O país está dividido.
Mas, logo a seguir ao referendo, houve notícias de pessoas que se tinham arrependido de votar a favor.
Arrependeram-se porque pensavam que estavam a votar numa coisa que iria perder. Incrível, não é?
Consegue perceber isso?
Eu ouvi coisas horríveis e disparatadas. As discussões de pub sobre o Brexit não faziam sentido nenhum. Eles queriam estar mais ligados à Commonwealth do que à Europa. É um disparate completo. Como é que podem estar mais ligados economicamente à Austrália do que a França? É uma questão geográfica. E aquilo foi um voto contra o "establishment", contra a falta de democracia que, de certa maneira, existe. Foi um voto contra a política tradicional. E criou uma série de efeitos de choque até hoje. A grande maioria dos conservadores eram contra o Brexit e depois tiveram de mudar completamente, nomeadamente a Theresa May. Há um pouco aquela impressão de que os políticos vão para onde sopra o vento. No fundo, o Brexit foi um bocado isso, foi um voto contra o político, mais do que um voto para sair da União Europeia.
Acredita que o Brexit pode não avançar?
Se avançar, é uma desgraça. Acho que é possível que não aconteça. Ou que aconteça uma coisa "cosmética", tipo Noruega.
Ao avançar, que consequências pode ter para os portugueses que estão a viver em Inglaterra?
As pessoas estão preocupadas e com razão. Em princípio, têm o direito de ficar. Uma pessoa que tenha lá estado cinco anos tem residência permanente. No Imperial College, estão desesperados e os hospitais também. Imagine o que é os europeus saírem todos de repente... Seria uma desgraça total. O país parava! Existem ali três milhões de europeus...
Voltando à ciência. Porque é que os cientistas têm tanta dificuldade em partilhar informação com o público em geral?
Estamos habituados a falar uma linguagem que não é aquela que as outras pessoas falam. A nossa linguagem é a matemática. Depois, há um problema sociológico. Eu gosto de partilhar, mas há uma certa ideia, entre os cientistas, de que quem partilha é uma prostituta. Que faz prostituição científica. Os investigadores continuam a achar que estão numa torre de marfim, que não têm de justificar o dinheiro [direccionado para a investigação]. A maior parte do dinheiro vem de impostos, por isso acho que faz sentido justificar aquilo que estamos a fazer. Penso que isso está a mudar, e é bom que esteja. Por outro lado, também há o problema de a maior parte das pessoas ser muito pouco instruída cientificamente.

Está a falar da população em geral?
Sim, em particular em Portugal. Vamos entrar numa fase em que teremos de tomar decisões democraticamente sobre temas relacionados com o aquecimento global, genética, energia..., questões científicas que vão moldar completamente o nosso futuro enquanto espécie. As decisões são para ser tomadas de uma maneira informada. Aí, os jornalistas são fundamentais como ponte entre as pessoas e os cientistas.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lançou uma iniciativa que pretende colocar cientistas a falar com alunos do secundário sobre o papel da ciência na sustentabilidade do planeta. Isso pode ajudar a aproximar os jovens da ciência?
Isso é fundamental. Vivemos num país onde quem não sabe quem é o Camões leva com um atestado de estupidez. Ao passo que é aceitável não saber o que é, por exemplo, um quanta de luz. E, no entanto, em questões como se a radiação vai causar cancro ou não, é fundamental saber o que é um quanta de luz. É uma coisa muito simples e podia ser explicada qualitativamente. Em termos de cultura geral, isto é pior do que não saber quem é o Camões. No aeroporto, quando estão a passar no raio-x, as pessoas dizem disparates descomunais. É algo que revela ignorância científica, mostra analfabetismo total científico. E é triste. Como eu disse há pouco, existem decisões que vão ser tomadas democraticamente sobre coisas muito graves que vão decidir o futuro da nossa espécie e vão ser decididas por pessoas que não sabem o que é um quanta de luz. Há pateguice numa certa cultura humanista portuguesa, que é: nós somos intelectuais ligados às letras, portanto, não temos de saber nada de ciência. Isto vai ter repercussões. Não estou contra a cultura humanista, mas há um desequilíbrio total.
Disse numa entrevista que, ao contrário daquilo que se pensa, os cientistas malucos são os teóricos e não aqueles que fazem experiências nos laboratórios. E que muitos dos grandes cientistas têm distúrbios mentais. É mesmo assim ou exagerou um bocadinho?
Sim, é verdade. O autismo é uma coisa típica. Estou completamente rodeado de gente com traços claríssimos de autismo. E problemas de obsessão. É normal. Como é que uma pessoa há-de ser capaz de fazer um certo tipo de trabalho sem ser obsessivo? É um distúrbio mental que, de certa maneira, é reciclado numa coisa positiva. Eu não digo que seja obrigatório ter estes problemas para ser capaz de fazer ciência, mas é obvio que ajuda.
A questão fundamental para a física teórica é de onde veio o universo. De onde viemos e para onde vamos. Estas questões cruzam-se muito com a religião. Para um cientista, a fé e a razão podem andar de braço dado ou são mundos completamente estanques? Por outras palavras: um cientista pode ter fé?
Claro que pode ter fé. Acho que são coisas completamente separadas. Eu sou ateu, mas não é por ser cientista. É uma convicção humana pessoal. São dois mundos completamente diferentes. Da mesma maneira que acho uma estupidez usar a ciência para justificar a religião, como faz o criacionismo, acho muito mau precisar da ciência para justificar o ateísmo. Eu tenho o direito de ser ateu antes de entrarmos na história do Big Bang. Mesmo que se provasse cientificamente que Deus existe, eu não acreditaria. Acho que é mau. Faz mal à saúde. É como o sal.