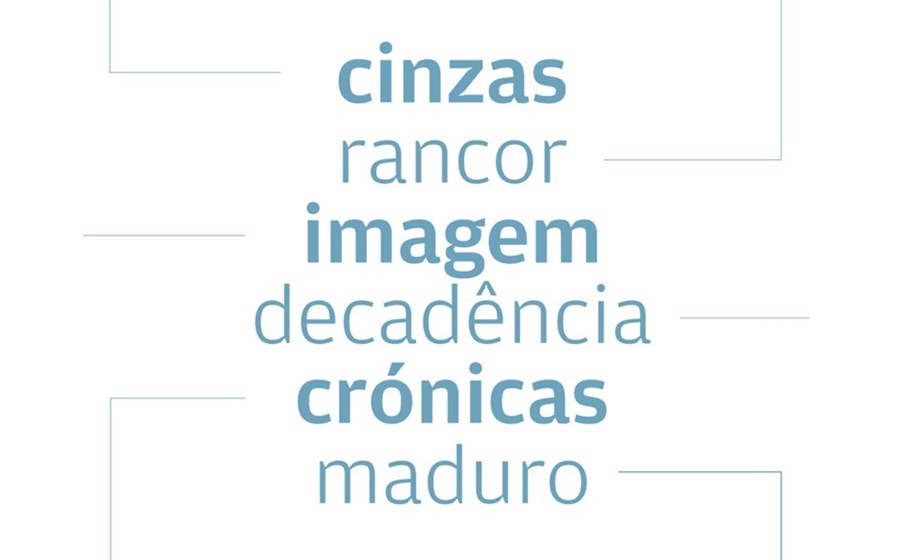Notícia
Folha de assentos
Regresso ao presente num tempo de cinzas. É o que fica depois da voragem do fogo e da incúria dos homens. A imagem é sombria, misto de indolência e rancor. Afinal, quem pode mais, o compromisso ou o cinismo? Interrogava-se há dias Manuel Rivas.
cinzas. Mais do que os fogos, ficam as cinzas da tristeza, da desolação e da perda. Tempo e vida consumidos num ciclo tornado inevitável. Muitos Pedrógãos fizeram e fazem a desgraça repetida. Preocupações e lágrimas, invectivas e passa-culpas, investigações e relatórios, tornaram-se cardápio de estação. Sempre tão enfáticos como inconsequentes. Talvez a memória de dezenas e dezenas de mortos chegue mais longe. A palavra tragédia gasta-se na esgrima política. A força do esquecimento é grande. Tal como a conveniência. O Presidente promete lembrar as cinzas: "Os fogos têm de passar a ser assunto permanente." Por enquanto, a "época dos fogos" está viva. E nem por isso a política tem tido sentido útil. Cria problemas, não os resolve. Esgota-se nos duelos da comunicação. E, no entanto, nunca precisámos tanto de política, de proposta, de debate, de decisão, de compromisso. Lembro, por estes dias, as interrogações de Manuel Rivas: "Quanto há de activismo e indolência na sociedade de hoje? Quem pode mais, o compromisso ou o cinismo?" Quando falamos de fogos, falamos afinal dos homens e do território. Da fundação da política, portanto.
rancor. António Costa Silva é um dos nossos melhores. Professor, gestor, poeta, cosmopolita, dono de uma memória histórica rara, tem pensamento próprio sobre o país e os seus desafios. Esta semana, escreveu um artigo no Expresso em que nos confronta com um Portugal no fio da navalha. O ponto de partida são as boas notícias: "A oposição faz tudo para não reconhecer as boas notícias da economia; o Governo faz tudo para transformar estas boas notícias numa ficção para o futuro." Prevalece, diz Costa Silva, um "rancor partidário" que é mau conselheiro e turva a visão. Política feita de ressentimentos, de ódios profundos mal dissimulados. Tudo se esgota no dia-a-dia, num tempo sem futuro e sem memória. Ponto chave da sua reflexão é a nossa incapacidade de pensar em termos estratégicos, a submissão ao que designa de "absolutismo do presente". Certeiro.
imagem. Tempo de leituras, tempo de ler e pensar com Eduardo Lourenço. O "nosso sábio", assim lhe chamava Mário Soares, é talvez quem nos lê melhor, quem tem uma visão longa do nosso percurso e nos topa em cada triunfo e em cada percalço. Na entrevista que deu esta semana a Isabel Lucas, no Público, Eduardo Lourenço alerta para o perigo de estarmos morbidamente fixados na imagem sem interpelarmos a vida. A cultura da imagem tende a anestesiar-nos. E é preciso interrogarmo-nos, irmos além do nosso espelho. Necessitamos de contexto, de perceber o outro. O fechamento, um certo ensimesmamento, tolhe-nos o futuro.
decadência. Donald Trump junta a irresponsabilidade de um ignorante ao ímpeto de um negociante sem escrúpulos. Não é exagero. É defeito. Conjugam-se nesta aberração política outros dotes perigosos: o de "entertainer" sem graça e o de cleptocrata impune. Não é a ambição de poder que o torna perigoso. É o caos que semeia à sua volta, a aleivosia, o descrédito, a imprevisibilidade e a inconsequência. Trump tornou-se a vergonha da América, mesmo que exista uma América - e existe - que se diverte e satisfaz com os seus dislates. A tragédia é filha da pior televisão e ultrapassa qualquer ficção de Hollywood. Mais do que resultado da frustração política e social, a eleição de Trump representa uma certa decadência do império. Não apenas por causa de Trump, mas também pelo desgaste profundo do "establishment". O poderio militar e económico aliado à força da cultura são travões fortes à decadência. O mesmo não se pode dizer do sistema político. Republicanos e democratas estão demasiado corroídos pela trapaça e pela impotência. Donald Trump é o risco maior para a democracia americana.
crónicas. Morreu o autor das "Crónicas Americanas", um livro de capa azul, papel poroso, miolo em papel amarelado. Parece banal, mas no início dos anos 80 não era. Banais não eram a escrita e um autor que se atravessava em vários palcos e telas mostrando muito de si e de um outro lado da América. "Motel Chronicles", assim se chamava o original, foi um livro marcante: escrita enxuta, seca, visual, respirada, cortante, desencantada, aqui e ali melancólica. Sam Shepard escreveu sobre uma América em declínio, desiludida, fracassada, uma América interior, profunda, afastada, longe do brilho feérico das celebridades e dos negócios. Na linha das crónicas, Shepard escreveu o argumento de "Paris, Texas", de Wim Wenders, com música de Ry Cooder. Encontros e desencontros, decadência e alienação num tempo de aparente progresso económico. Eram os anos de Reagan e o registo de Shepard, que foi um bom actor, revelava uma angústia inesperada em horizontes perdidos. Um universo na linha dos contos de Raymond Carver numa América que haveria de se entregar à deriva de Trump.
maduro. A Venezuela tornou-se um regime musculado, um país profundamente dividido, desgovernado, socialmente deslaçado e à beira da guerra civil. Chegou aqui após muitos anos de chavismo. Militar, golpista, Hugo Chávez conquistou o poder em eleições livres em 1998. Renovou-o sucessivamente distribuindo rendimento pelos mais pobres e prometendo o socialismo do século XXI. Populista, carismático, tinha dinheiro do petróleo, e assim arrastou boa parte dos venezuelanos para uma República popular inspirada e apoiada por Cuba e Fidel Castro. Morreram Chávez e Fidel e a Venezuela ficou entregue a um número dois sem a arte e o engenho do antecessor e, sobretudo, com menos dinheiro para distribuir. Nicolás Maduro tornou-se uma caricatura de Chávez e um homem perigoso. Manipula eleições para esconder a falta de apoio popular. O cerco internacional que se levanta vai agravar ainda mais a vida dos venezuelanos e, porventura, fortalecer Maduro. Benéfica seria uma mediação entre os dois lados da barricada. Afinal, os 30 anos de acalmia democrática, que mediaram entre a ditadura e a ascensão de Chávez, só foram possíveis através de um pacto entre os três maiores partidos.
rancor. António Costa Silva é um dos nossos melhores. Professor, gestor, poeta, cosmopolita, dono de uma memória histórica rara, tem pensamento próprio sobre o país e os seus desafios. Esta semana, escreveu um artigo no Expresso em que nos confronta com um Portugal no fio da navalha. O ponto de partida são as boas notícias: "A oposição faz tudo para não reconhecer as boas notícias da economia; o Governo faz tudo para transformar estas boas notícias numa ficção para o futuro." Prevalece, diz Costa Silva, um "rancor partidário" que é mau conselheiro e turva a visão. Política feita de ressentimentos, de ódios profundos mal dissimulados. Tudo se esgota no dia-a-dia, num tempo sem futuro e sem memória. Ponto chave da sua reflexão é a nossa incapacidade de pensar em termos estratégicos, a submissão ao que designa de "absolutismo do presente". Certeiro.
decadência. Donald Trump junta a irresponsabilidade de um ignorante ao ímpeto de um negociante sem escrúpulos. Não é exagero. É defeito. Conjugam-se nesta aberração política outros dotes perigosos: o de "entertainer" sem graça e o de cleptocrata impune. Não é a ambição de poder que o torna perigoso. É o caos que semeia à sua volta, a aleivosia, o descrédito, a imprevisibilidade e a inconsequência. Trump tornou-se a vergonha da América, mesmo que exista uma América - e existe - que se diverte e satisfaz com os seus dislates. A tragédia é filha da pior televisão e ultrapassa qualquer ficção de Hollywood. Mais do que resultado da frustração política e social, a eleição de Trump representa uma certa decadência do império. Não apenas por causa de Trump, mas também pelo desgaste profundo do "establishment". O poderio militar e económico aliado à força da cultura são travões fortes à decadência. O mesmo não se pode dizer do sistema político. Republicanos e democratas estão demasiado corroídos pela trapaça e pela impotência. Donald Trump é o risco maior para a democracia americana.
crónicas. Morreu o autor das "Crónicas Americanas", um livro de capa azul, papel poroso, miolo em papel amarelado. Parece banal, mas no início dos anos 80 não era. Banais não eram a escrita e um autor que se atravessava em vários palcos e telas mostrando muito de si e de um outro lado da América. "Motel Chronicles", assim se chamava o original, foi um livro marcante: escrita enxuta, seca, visual, respirada, cortante, desencantada, aqui e ali melancólica. Sam Shepard escreveu sobre uma América em declínio, desiludida, fracassada, uma América interior, profunda, afastada, longe do brilho feérico das celebridades e dos negócios. Na linha das crónicas, Shepard escreveu o argumento de "Paris, Texas", de Wim Wenders, com música de Ry Cooder. Encontros e desencontros, decadência e alienação num tempo de aparente progresso económico. Eram os anos de Reagan e o registo de Shepard, que foi um bom actor, revelava uma angústia inesperada em horizontes perdidos. Um universo na linha dos contos de Raymond Carver numa América que haveria de se entregar à deriva de Trump.
maduro. A Venezuela tornou-se um regime musculado, um país profundamente dividido, desgovernado, socialmente deslaçado e à beira da guerra civil. Chegou aqui após muitos anos de chavismo. Militar, golpista, Hugo Chávez conquistou o poder em eleições livres em 1998. Renovou-o sucessivamente distribuindo rendimento pelos mais pobres e prometendo o socialismo do século XXI. Populista, carismático, tinha dinheiro do petróleo, e assim arrastou boa parte dos venezuelanos para uma República popular inspirada e apoiada por Cuba e Fidel Castro. Morreram Chávez e Fidel e a Venezuela ficou entregue a um número dois sem a arte e o engenho do antecessor e, sobretudo, com menos dinheiro para distribuir. Nicolás Maduro tornou-se uma caricatura de Chávez e um homem perigoso. Manipula eleições para esconder a falta de apoio popular. O cerco internacional que se levanta vai agravar ainda mais a vida dos venezuelanos e, porventura, fortalecer Maduro. Benéfica seria uma mediação entre os dois lados da barricada. Afinal, os 30 anos de acalmia democrática, que mediaram entre a ditadura e a ascensão de Chávez, só foram possíveis através de um pacto entre os três maiores partidos.